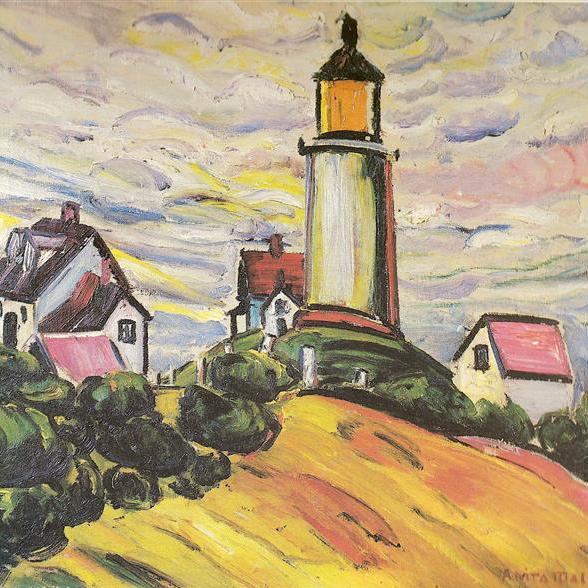DA IMPORTÂNCIA DOS CLÁSSICOS
Que importa o quebrar do fio
enlaçado a ouro no novelo inteligente
de Ariadne.
Ou o conselho sábio de Quíron
em constelação de rumo
ausente sempre de erro.
Que importa o lavor de Penélope
e o tear em metáfora de dever e honra
que lhe veio impor.
Ou a mudez desistida nascente
agora nas cordas da lira
encantada de Orfeu.
Que importa o instinto presciente
de Cassandra e a certeza pontiaguda
da tormenta por chegar.
Ou o translúcido papel em asas
feitas de sonho e de vento
como as de Ícaro.
(As mesmas que trago eu
Hoje
cobrindo as cicatrizes).
Ser sonho em papel translúcido e
goma arábica tangente ao sol
ou vislumbre de infinito à vista do mar.
Que importa a altura da queda.
Que importa se o sonho
é voar.
OS LUSÍADAS
Cumpro, por ti, Luís Vaz, uma encomendação que se
fez promessa (talvez por mim a cumpra) entre as
pausas de uma vida discretamente real. É árduo o
enigma e sinto – talvez o tenhas sentido no tempo
que foi o teu – um embaraço em expansão, um susto
daninho que me vai apoucando engenho e vontade,
mas a promessa, Luís Vaz, já se fez rasto de horizonte
e o cais de silêncio deixou de ser a minha casa.
O problema, Luís Vaz, vem de tu seres tu. Depois
de ti – da tua vida apaixonada e truculenta, do génio
criativo e da literatura heroica, da morte trágica,
da obsessão caseira e da glorificação universal,
das figuras de diorito em pose e dos programas
de liceu, dos exames finais e das pautas de vergonha –
depois de cinco centenários, Luís Vaz, cabe ao puro
atrevimento escrever em português e imaginar-me poeta.
Qualquer pessoa – que não seja, bem entendido,
alguma das muitas pessoas do Pessoa – a escrever
na língua que dizem ser a tua – a mesma que cheira
a mar e soa a inteiro mundo – obriga-se a um esforço
muscular cruel de imaginar tu, Luís Vaz, não existes. Que
não lês e não escutas, do Olimpo onde habitas, as palavras
que aqui se escrevem. Não apenas estas, mas por força
estas que escrevo por ti (talvez por mim as escreva).
Tu inteiro, Luís Vaz, homem, sim, e poeta, claro –
amante, boémio, soldado, prisioneiro, viajante,
náufrago, cortesão, vagabundo – viveste em tresdobro
tudo quanto nós – nós todos e todas as pessoas do
Pessoa – vamos substituindo por horizontes, ou sonhos,
ou versos que tu, Luís Vaz, do Olimpo onde habitas, lerás
com enfado condescendente, imune sempre à sombra
que entornas por te caber de direito apenas a luz.
Talvez não saibas, Luís Vaz, que o bravo povo sonhador
e desassossegado sublimado no tempo que foi o teu,
segue agora caminho ao reverso das musas, desistido
das ondas e das estrelas, desistido de arriscar e de falhar,
desistido de tudo e até de si próprio, só não desistido
de mentir sobre a verdade. Também sobre a ossada
que repousa na solidão irónica de um tal manuelino
esquife com o teu nome a servir de lenda, digo, de legenda.
Em dias de solitude, ocorre-me pensar que em estância
alguma, Luís Vaz, escreverias hoje como no tempo que foi
o teu. E pergunto que palavras te seriam caras neste tempo
de agora, que cultiva ainda gente prestimosamente inclinada
à queima de livros, neste tempo quase perdido de gente
disposta a fazer-se ao mar, neste tempo que segue nomeando
quotidianamente os poetas como perturbações nevrálgicas
da normalidade, sofridas – hélas – como dores crónicas.
Queixo-me, Luís Vaz, bem sei, e todo este pranto é por
ti (talvez por mim pranteie). Perdoa-me o desacato e a
franqueza – que é fraqueza igualmente – mas a tua exasperante
falta de mácula – repara, Luís Vaz, que bastaria um só verso
mal pensado, um dente cariado, uma peúga rota pelo calcanhar –
essa falta de mácula faz de nós aprendizes numa arte que dizem ser
tão tua como esta língua que vou cantando – por roubo indecente
somente – desde que me lembro de respirar, digo, de escrever.
A vingança é vil e fraca consolação, bem sei, e perante ti,
Luís Vaz, me confesso criatura incapaz de segredo. Confesso
que por pretexto apenas te dedico a minha promessa (talvez a mim
a dedique). Trago a vida por escandir e sonho-me inteiramente
poeta, livre da sombra em evocação, por amor das palavras tão só,
por amor ao enigma e ao sentido, por amor à ideia perfeita de tudo
quanto pode a poesia. Pelo menos agora, neste tempo que é o meu,
digo em íntegra verdade que fui eu, poeta, quem escreveu os lusíadas.
A VOZ
Com Ana Luísa Amaral
Há uma voz em falta na escuta
das coisas simples. Encantadoras.
Uma voz em canto sonante de ave
cantante, que soa devagarinho
com efeito de relâmpago e de trovão.
Trova de sereia em búzio de mar
profundo, ou dança de tritão em fúria
náufraga, inteiramente livre. Música
corpórea de musa que tanto inspira
quanto abraça. Poema longo que perdura,
saudade que nunca passa. Falta-me essa
voz de ternura intensa, essa voz imensa
que faz do mundo jardim.
Escreve algo sobre a poeta, pede a mensagem e a mensagem desconhece, claro, a verdadeira envergadura do tanto que me pede. Ou a angústia em que vivo.
Tenho toda a caligrafia inocente, talvez perdida pelas costuras de um caderno em perpétuo estaleiro. Lá dentro, a fotografia de um beijo, aprende a esperar.
Espreito as páginas com a timidez que se guarda só à arte de observar as ideias e, de longe a longe, se o dia é oportuno ao milagre, encontro uma palavra que traz, mal-escondido, um pequeno rebento. Luminoso e significante no desafio da morte. Do esquecimento.
O miolo da arte, percebi agora,
não obedece ao vazio nem à vontade
material dos utensílios –
não se faz de cálamo, colher, cigarro, tesoura, telescópio, leme, janela
ou baloiço, nem de tijela partida, barco de velas altas ou reflexo de luar –
é verso, somente, que pousa e se demora
em mim. Em nós. Encanto consciente na
forma inteira de uma voz. É dançar
com as palavras como a árvore entrega
as folhas desiguais ao vento. É herança
que me abriga como alma alada largada
ao relento.
Por estes dias, em viagem numa estrada ausente de qualquer poesia, a voz – em gravação fiel – e um poema – tão querido – preencheram todos os espaços habitáveis à minha volta. No cruzamento seguinte, enganei-me no caminho e dei comigo, desimportada e deambulante, entre campos largos e muros pequenos.
Os muros, pensei, deviam ser todos pequenos. Teriam a existência entregue apenas à função de sabermos o bem que sabe trepar para cima deles e saltar para o outro lado. O bem que sabe esfolar os joelhos, ter cicatrizes para provar que já fomos grandes.
Falta-me essa voz que vislumbra todos
os versos que trago por escrever.
Mas trago-os, ainda assim. Quero
dizer: estou mais só e, todavia, creio
na beleza do rumo em horizonte aberto.
Agrada-me a certeza que habita apenas
no caminho incerto. Os braços ao redor
da árvore, o sorriso já a meio da subida,
as asas de pena bicolor em modo de alumbramento.
O olhar em fuga e a voz por dentro do silêncio.
No desavesso do pensamento –
LISTA (INÚTIL) DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS QUAIS SERÁS PERDOADA
Serás perdoada
quase sempre
pela maçada de teres nascido
mulher. E por reivindicares coisas
absurdas
também
quase sempre.
Concluirão que até tu mulher
terás o direito a um capricho
de vez em quando.
Deixarão soar com bonomia
tudo quanto digas inteiramente
incólume dirão está bem e
esperarão por ti de regresso ao
silêncio insípido da normalidade
no dia seguinte.
Perdoar-te-ão com esforço
de tolerância o idealismo a
inocência a excentricidade
artística a teimosia de pensar.
Quase sempre.
E também o mau gosto
na escolha do vestido
do filme impossível de compreender
do poema demasiado.
Serás perdoada pela solidão
pela angústia pelo abandono
que farás de ti própria.
Também pelo som das investidas
do teu corpo contra as grades.
Perdoar-te-ão quase tudo
exceto a ecdise de ti própria
e a insolência de seres tu.
HERANÇA
Um rosário de madeira puída.
Seis chávenas almoçadeiras
com cinco pratos apenas.
Um chapéu de feltro bom
com alguma consciência.
Um conjunto de agulhas de tricô
números dois, três e cinco
(as últimas com gancho).
Um botão de punho em prata antiga
sem par.
Uma lata de botões sortidos
(nenhum par do anterior).
Um livro manuscrito de receitas.
Um pouco de juízo.
Um sentimento de orfandade
talvez como ser amputada na alma
talvez como ser o relento na rua.
Sete colheres de sopa grandes
tão gastas que não podem ser levadas à boca.
Memórias de inteireza
tão contentes que seriam
capazes de salvar o mundo.
Uma coberta de lã
muito pequena para cobrir uma cama
talvez um regaço
talvez um desassossego.
Um anel de ouro com promessas cumpridas.
Uma escova de toucador com espelho.
Uma travessa de cabelos brancos
com carinho.
Uma caixa para abrigo
de madeira escura
com arabesco de madrepérola
onde tudo cabe em arrumo
tudo
excepto um abraço.
DEFINIÇÃO DE “JANELA TIPO VARANDA” EM DICIONÁRIO ILUSTRADO DE CRIAÇÕES ESSENCIAIS (PARA LER E RECOLHER AO INTERIOR SEM RODAR O TRINCO)
Janelas abertas
para varandas abertas
para espaços outros
Espécie substantiva indefinível
a janela tipo varanda
faz as vezes de uma subtil porta
que importa no ser lente
de observar o que a partir dela se vê
e também o que se não vê
e se imagina silenciosamente
em imagem distante da cor do granito
do ferro caldeado ou da roupa em estendal
Separadora ocasional das tempestades
e demais tumultos menos naturais na origem
a janela tipo varanda compõe –
quase sempre –
uma pose em lugar de luz
em sorriso às criaturas aladas
em ponto de fugas prometidas
Uma janela tipo varanda
é uma pergunta que se estende
a caminhos de respiração desigual
de quieto maravilhamento
É uma carta por escrever
em guarda por um pensamento
Num mundo sem janelas abertas
para varandas abertas
para espaços outros –
ausente do elemento comunicante
entre o aqui e o sonho –
qualquer olhar se apouca
encolhido cobarde
Num mundo sem janelas abertas
não existem acenos a quem passa
nem arcobotantes de verticalidade impossível
nem caravelas na distância em valsa de adamastor
nem donzelas em escuta de trovas de amor
nem cosmonautas a dizer o planeta –
como poetas –
caminhantes debruçados em
escotilhas longínquas
que são janelas abertas
para varandas abertas
para Espaços outros
pequena, azul clara e tão tocantemente só
Um mundo sem janelas abertas
não é sequer um mundo em modos
antes uma cova mal arejada
funda disforme turva
descrita em palavras rugosas
sem acústica e sem sentido
Um mundo sem janelas abertas
para varandas abertas
para espaços outros
não é um mundo
é uma infelicidade
uma heresia
um castigo de mito antigo
ou de conto de amedrontar
Tudo no mundo revolve
ao redor de uma janela ou de outra
voltada a esta varanda ou a outra
numa infinitude de janelas
em eco geométrico perpétuo
de varandas em descoberto
de olhares em desconcerto
É indiferente o tamanho
físico do objecto
é indiferente o lugar
concreto onde se acomoda
contanto que esteja aberta –
a janela –
para uma varanda aberta
para espaços outros
Mede-se em importância
pela espessura do momento
em que uma alma a ela se abeira
pela profundidade do olhar
pela modéstia do apontamento
em imagem muito lenta
pelo inclinar do silêncio
com que a luz da tarde
a toca e cumprimenta
____________________
A definição “pequena, azul clara e tão tocantemente só” foi proferida pelo cosmonauta Alexei Leonov quando, em 1965, se tornou o primeiro homem a caminhar no espaço.

Raquel Patriarca (Benguela, 1974). Librarian, historian, storyteller, and writer, she has a PhD from the Faculty of Letters of the University of Porto, with a thesis on the history of children’s books in Portugal. She mediates reading for various audiences and teaches future librarians and archivists, teachers and post-retirement students in subjects such as book promotion and reading mediation, creative writing, local history, and the history of books and libraries. If she’s not doing the above, she’s probably writing poetry, writing love letters on commission or traveling. She is the author of around a dozen books dedicated to children and has published two books of poetry, Cada gesto essencial, and Ástato, an element from the Periodic Table in the ElemeNtário collection.