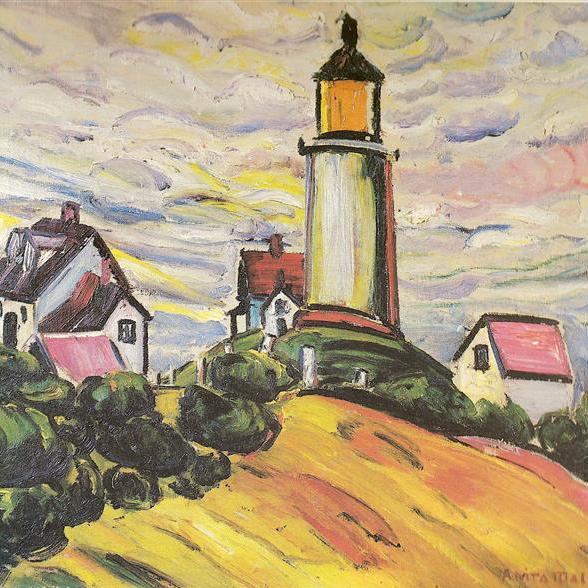SUPERSTIÇÃO
O telefone jaz abandonado na mesinha do vestíbulo sem que vivalma responda ao seu repique. Ouço-o, de mãos ocupadas, botando mais couves no tacho. Nego-me a abandonar o meu posto. Sou a responsável pela comida que será servida e, apesar de ter despachado todas as sobremesas, ainda terei de me ocupar do prato principal. O suor escorre-me pelas costas e os olhos embaçam-se, ainda assim não vacilo.
Serão treze bocas a jantar, daí a quantidade exuberante de folhas deste legume que se espalha pela banca da cozinha e, em boa verdade, faltam-me mãos para as agarrar a todas. Seremos treze pessoas à mesa. Relembrei o meu marido do quanto me afligem as superstições — o que diria a minha avó, que Deus tem, se soubesse? Não quero ser obrigada a controlar quem se levanta da mesa, até porque, de todos os treze, com a entrada e saída de tachos e travessas, serei eu, certamente, aquela que será condenada a erguer-se primeiro e, por consequência, a ser a próxima a morrer.
Este ano, celebramos a Véspera em nossa casa. Implorei paciência ao meu marido, mas para me encher de afazeres ele não se coíbe de correr para o telefone. Convidou a mãe e a tia, dois abutres de cabelos armados e peles descaídas, cheios de opiniões. Opiniões negativas, entenda-se, que, a partir de uma certa idade, já não se elogia nada, nem ninguém.
Depois, convidou a irmã, de lábios e peitos refeitos, toda lipoaspirada, o seu namorado metrossexual e os nossos três sobrinhos, todos de cabelos, olhos e pai diferentes. Disse ao meu marido que os catraios até podiam passar a noite connosco, porém, que dispensava a minha cunhada e a sua nova conquista. Ele respondeu-me com o encolher de ombros costumeiro.
Convidou também o irmão — careca, atarracado e divorciado — e a nossa outra sobrinha, — que é maior de idade, contudo, não é maior de cabeça, e um dia será tão careca e atarracada quanto o pai. Pedi clemência, mas pouca, porque esses dois nem abrem muito a boca, a não ser que seja para comer.
Por fim, convidou o primo — que insiste que é irmão, que ginga quando fala e me devora quando me olha, — e o irmão-emprestado — que não é filho de ninguém, que se encaixa nos cantos de divisões e de sofás, e que eu tampouco compreendo como foi parar àquela família, ou como deles recebeu aprovação.
Suspiro.
Serão treze estômagos para alimentar e eu continuo sem saber se terei couves para todos. Nunca fui boa na cozinha, apesar de ali ter começado a minha vida. Aprendi a somar postas de bacalhau, porém nunca possuí a clarividência necessária para antecipar a divisão das couves.
O telefone toca outra vez:
— Se é a tua irmã a dizer que está atrasada, pede-lhe que se despache.
Nem o meu marido se mexe para atender o telefone, nem este para de tocar. Desisto de esperar que alguém me preste auxílio. Limpo as mãos ao avental, corro até ao vestíbulo e levanto o auscultador. Confirmo: é ela. Está atrasada, como eu adivinhara. Diz que o pai do mais novo ainda não o veio trazer, e que ainda terá de passar na casa do pai do mais velho, para o ir buscar. Diz que este mora na Damaia e, já se sabe, as Portas de Benfica são uma confusão nesta altura do ano.
— Mas o que é que eu tenho a ver com isso, mulher? Pega nos teus filhos e despacha-te que o comer está ao lume. O bacalhau frio fica sem jeito nenhum!
Ela bufa. Ouço-a queixar-se do meu feitio, deve estar a cochichar com o metrossexual. Quero lá saber. A casa é minha! Não se pode atrasar.
Desligo.
Passo pelo meu marido e encontro-o sentado no cadeirão da sala:
— Era a tua irmã. Está atrasada.
Ele não pia, nem estrebucha.
Regresso ao fogão e às couves que, entretanto, amoleceram e escorregaram pelo tacho adentro. Dou com a mãe e com a tia dele sentadas à mesa da cozinha, a criticar-me com olhos e bocas enrugadas.
— Por quanto tempo é que acham que deixe as couves ao lume?
Perguntei por perguntar. Posso não saber dividir couves, mas sei cozê-las. Só quis fazer conversa, se bem que não me devia competir entreter aquelas duas.
Suspiro.
Ligo o exaustor. Não quero ouvir suas as palavras venenosas, chega-me ter de lhes olhar para a cara.
Deixo a colher de pau sobre o tacho antes de pousar a tampa, rezando para que a água da fervura não transborde, e regresso à sala. O meu marido continua sentado no cadeirão como o homem da casa que ainda acha que é, porém, não faz nada, não diz nada, não decide nada. Encontro-o sempre assim, de olhos esbugalhados para a programação de um qualquer canal televisivo que, nesta época do ano, repete os mesmos filmes de um miúdo deixado sozinho numa casa, num aeroporto, num hotel, e sabe Deus mais onde. O único som que se ouve são os gritos da criança e da respetiva mãe — que raio de mulher não sabe onde deixa o filho? A minha cunhada ainda sabe onde vai deixando os seus, graças a Deus.
A luz da televisão condiz com o pisca-pisca colorido do pinheiro artificial que, este ano, montámos perto da janela. O restante espaço está envolto na penumbra. Quando nos sentarmos à mesa vou acender o lustre de cristal, suspenso por cima da mesa de jantar. Não me posso distrair com as espinhas do bacalhau. Sendo que somos treze à mesa, não vale a pena atiçar o Diabo e permitir que uma dessas malandras me fique entalada na garganta. Além disso, serei eu a tirar as espinhas do bacalhau dos meus três sobrinhos, que a mãe deles gosta mais de falar do que mexer em comida — e Deus nos livre de ter uma criança engasgada também.
Deparo com os dois atarracados no sofá, cada um com o seu telemóvel. A luzes coloridas refletem-se nas lentes dos seus óculos.
— Querem beber alguma coisa?
Silêncio. Hoje ninguém me responde.
Resmungo, sem disfarçar o desagrado:
— Já sabem, façam como se estivessem em vossa casa.
Sentado na décima quarta cadeira, que ficou esquecida no canto da sala, está o irmão-emprestado. O inútil parece um bibelô, de cotovelos nos joelhos e de olhar fixo no chão. Talvez seja por isso que esta maldita família gosta dele.
Gesticulei para o aparador cheio de bolo-rei, tarte de amêndoa, sonhos, filhoses, coscorões e frutos secos:
— Queres comer alguma coisa? Fui eu que fiz tudo. Menos o bolo-rei, que é da pastelaria da rua de cima. Ah! E menos os frutos secos, não é? — rio-me.
Ele é outro que não me dirige a palavra. Que rica prenda.
Dou a volta à mesa para regressar à cozinha. Sou obrigada a passar pelo bar que o meu marido insistiu em encaixar na sala: um pedaço de carpintaria inútil carregado de bebidas alcoólicas que raramente são servidas. Só o primo-irmão é fã daquele mono, gostando de se encostar ali com um copo de uísque de supermercado na mão, olhando-me com mais desejo do que o meu próprio marido.
— Tem juízo, homem — sussurro, sem disfarçar o sorriso.
Regresso à cozinha e sou engolida pela bruma: o exaustor desistiu de funcionar. Carrego em todos os botões duas vezes, mas depressa declaro o óbito. Tinha dito ao meu marido que isto ia acabar por acontecer. Ele tem a mania de que é muito ágil a fazer arranjinhos, e depois nunca resolve nada.
O raisparta das couves ainda parecem cruas. O bacalhau nem por isso. Provo a água e verifico que está boa de sal. Não lhe deitei sal nenhum, para ser sincera. As postas de bacalhau eram bem altas. O garfo entra com dificuldade nas batatas. Atiro uns poucos ovos para dentro do tacho do bacalhau. Olho por cima do ombro para os dois abutres:
— Não vos fazia mal nenhum ajudar.
Contudo, a ajuda não chega e eu até agradeço. Estou melhor sozinha.
A minha família sempre foi pequena. O meu pai desapareceu antes de eu nascer e a minha mãe morreu antes de eu saber andar. Não tive irmãs, nem irmãos, nem primos que insistem que são irmãos, nem irmãos-emprestados que ninguém sabe de onde vieram. Só conheci a minha avó, que Deus tem. Fui trazida para a casa desta inclemente família, onde ela, coitadinha, já trabalhava. Aqui fui criada por ela, entre o fogão e o tanque da roupa. Aprendi a manter a cabeça baixa, a ser bem-mandada e a temer superstições. Nunca passei por baixo de escadas, nunca parti um espelho, afugentei todos gatos pretos que vi e nunca admiti que treze pessoas se sentassem na mesma mesa — até hoje.
Deixei a escola durante a adolescência e passei a ajudar a minha avó nas tarefas que lhe incumbiam, até Deus a levar, e eu lhe herdar o serviço e as superstições. Passei a varrer o chão, a lavar a roupa, a fazer as camas, e depois a ser levada para dentro delas pelo filho do patrão, com quem acabei por casar — para desagrado da mãe, da tia, e de todos os outros membros da família que o Diabo, em boa hora, foi arrastando com ele. Nessa altura, o meu marido não tinha barriga, nem bigode. Sorria-me desavergonhado, tinha vontade de mim e tinha dinheiro, por isso deixei-me ficar com ele julgando ter encontrado a felicidade. Agora, ele tem menos vontade, menos dinheiro e nenhum sorriso. Talvez tenha sido a tristeza que foi alastrando em mim que me secou o ventre, e fez com que, para meu desgosto, nunca nascessem crianças. Voltei assim ao papel que um dia fora meu: o da criada de quem ninguém quer saber. O que me vai valendo são os meus pequenos sobrinhos desemparelhados que, amiúde, me puxam o avental e me pedem para rapar os tachos.
O telefone toca e, novamente, ninguém se digna a atendê-lo.
— De certeza que é a tua irmã! — grito para a sala.
É inútil. Ele não se mexe.
Corro para o vestíbulo com a colher de pau na mão:
— O que foi, mulher? Já estás a caminho? E as crianças? Venham de uma vez, que o jantar está quase. Sim. Despachem-se, mas é.
Atiro o auscultador ao invés de o pousar. Esgotei a pachorra para esta família. Só quero que os restantes cheguem para acabar de vez com esta fantochada.
Vou direta à sala de colher de pau na mão e aponto-a ao bigode do meu marido:
— Para a próxima levantas-te, se fazes o favor, que eu não sou tua criada!
Ele não me olha. Está fixo no ecrã onde a criança destemida trama os dois ladrões.
Ergo o olhar e vejo o primo ainda com aquele sorriso. Um sorriso que diz que pegava em mim e me consumia ali, à frente da família toda. Voava bolo-rei, tarte de amêndoa, sonhos, filhoses, coscorões, e depois logo se via o que faríamos aos frutos secos.
— Disse-te para teres juízo — murmuro, sorrindo novamente.
Esfrego as mãos no avental, sem largar a colher de pau, e regresso à cozinha. Exaspero: a tampa do tacho fechou-se e a água da fervura transbordou, espalhando-se pelo chão afora. Os lumes apagaram-se, tresanda a gás, e os abutres ali, um contra o outro, de olhos fixos em mim, à espera que seja eu a resolver aquele armagedão.
— Vocês, realmente. Não podiam ter chamado por mim?
Abro as janelas. Limpo a água do fogão com um pano, e nem sei onde deixei a colher de pau. Acendo os lumes novamente e a ordem fica reposta. Dou por mim de joelhos a apanhar a água do chão com os abutres, de nariz empinado, a esvoaçar por cima de mim.
— Não pensem que ainda sou vossa criada!
Ergo-me com o coração a rebentar no peito. Largo o pano molhado e pego na faca com a qual tratei das couves. Ameaço tratar-lhes da cara:
— Sempre me tomaram por uma pobretanas. Não se dignaram a acolher-me na vossa família de falsos ricos. Aturo esta merda todos os anos, mas hoje chega. Acabou. Acabou tudo!
E elas sem se mexer. Sem alterar a expressão. Sem respirar.
Tocam à porta.
Só podem ser a irmã, o metrossexual e os três miúdos.
Limpo o suor que se acumulou no rosto e ajeito os cabelos desgrenhados.
Sorrio.
Agora já somos treze.
Regresso ao vestíbulo, tendo o cuidado de fechar todas as portas atrás de mim. Abro a porta de entrada com a mão que não segura a faca. Só vejo três cabeças pequenas desemparelhadas e umas pernas enormes saindo de dentro de uma minissaia branca, tão imprópria para meteorologia atual, quanto para ambientes familiares.
Afinal só somos doze?!
Tanto trabalho para nada!
Respiro de alívio quando a minha cunhada explica: o metrossexual está apenas à procura de lugar para estacionar, haverá de se juntar a nós.
— É bem feita! Tivessem chegado às horas combinadas. Agora só deve conseguir estacionar na rua de cima, perto da pastelaria.
O sorriso de lábios refeitos está pintado de escarlate e curva-se com desprezo. Ouço os insultos que ela não verbaliza. Cerro a boca e cerro a mão à volta da faca.
Encaminho os catraios para a casa de banho. Têm de lavar as mãos antes de comer — sabe Deus onde os miúdos enfiam os dedos! Eles acercam-se do lavatório: o mais velho ajuda o mais novo e eu saio, trancando a porta atrás de mim.
Ficarão protegidos até o jantar ser servido. Sem agouros, nem superstições. Puxar-me-ão o avental e perguntar-me-ão se ainda tenho tachos que possam rapar.
Ouve-se um grito na sala.
Apresso-me ao seu encontro e deparo com a cara da minha cunhada desfeita pelo terror.
Sorrio.
Avanço para ela e, com um movimento lesto, a faca que ainda tinha na mão trespassa-lhe a goela. Primeiro, desaba um rio de sangue para o tapete e depois desaba a minha cunhada, toda descomposta, cabelos e minissaia, agora, também, escarlate. O tapete ensopa-se e a nódoa propaga-se. Anos antes, teria caído de joelhos, assombrada pela trabalheira que seria lavar aquele arraiolos. Hoje, tanto se me dá, como se me deu. O tapete já estava manchado com o sangue do meu marido, dos dois atarracados e do irmão-emprestado. Só o primo me escapou inteiro. Foi o primeiro a chegar, e por isso o primeiro a partir, com o veneno que lhe deitei no uísque. Enrijeceram-se-lhe os músculos e manteve-se de pé, com o copo na mão e com o sorriso petulante eternizado. Os abutres foram fáceis de asfixiar, bastou-me abrir o gás e impedir-lhes a saída da cozinha. Arrumei-as depois, sentadas à mesa, encavalitadas uma na outra, como se ainda aguardassem o jantar.
Suspiro e recomponho-me.
Agora, só falta um.
A minha avó, que Deus tem, ficaria satisfeita.
Circunavego a mesa de jantar repetidas vezes, mas o desgraçado do metrossexual nunca mais aparece. Bato o pé e roo as unhas. Deve ter ido estacionar muito para lá da pastelaria.
Interrompo a minha marcha e o silêncio sobressalta-me. Normalmente os meus sobrinhos transbordam de gargalhadas e têm bicho carpinteiro. Era de esperar que se estivessem a debater uns com os outros, ou com a própria fechadura.
Regresso devagar ao vestíbulo e encosto o ouvido na porta da casa de banho. Não oiço qualquer murmúrio. Sinto o peito apertar-se. Destranco a porta e deparo com a divisão vazia. A janela escancarada deixa entrar o frio da noite e as luzes das decorações vizinhas. Os catraios escaparam-se. Afinal não querem jantar comigo, nem rapar os meus tachos.
Apresso-me de volta para a cozinha. Não sei quanto tempo me resta. Tiro apenas um dos pratos do louceiro e sirvo-me com abundância: postas de bacalhau, batatas, ovos e couves o bastante para um batalhão.
De saída da cozinha, ouço os abutres desdenhar entredentes.
Terei mesmo ouvido as suas vozes?
De soslaio, vejo as suas peles penduradas escorrerem para o chão.
Assusto-me.
Atrapalhada, avanço para a sala, tropeço nas pernas da minha cunhada e caio no colo dos dois atarracados. O prato voa: bacalhau, batatas, ovos e couves rasgam o ar e acertam no meu marido. No alvoroço, o primo que era irmão cai-me em cima. As suas mãos gélidas entram no meu avental, na minha camisola, na minha braguilha. O seu hálito de morte invade-me a boca. O meu marido desliza, então, sofá abaixo, acomodando-se em cima de nós.
Tento erguer-me, contudo eles são pesados e eu escorrego no sangue. Caio na morte uma e outra vez. Eles não me querem deixar ir. Os corpos frios lutam contra mim. Ainda querem que seja empregada, cozinheira e escrava sexual. Não me deixam viver sem eles. Querem que morra também. Que continue a prestar-lhes serviço no lado de lá.
Aquele alvoroço de braços, pernas e bocas abraça-me, aperta-me e morde-me.
Asfixio.
A polícia arromba a porta de entrada. As luzes azuis dos seus carros inundam a sala, esfriando o pisca-pisca colorido do pinheiro e das luzes da televisão. O ambiente é sombrio. Não cheguei a acender o lustre de cristal.
Os agentes entram de arma em riste, avisados pelas três crianças chorosas e pelo metrossexual incrédulo. Encontram-me sentada à mesa de jantar — uma ao invés de treze. Comprovam que a minha superstição foi tão desfeita quanto a família que nunca me acolheu. Celebro a Véspera sozinha. Diante de mim, o prato está servido: bacalhau, batatas, ovos e couves, toda a refeição regada com sangue espesso e nenhum azeite. A cabeça pende-me para a frente e a espuma escorre-me pelo queixo. Um último suspiro esvazia-me o corpo.
Sossego, por fim.

Ana Rita Garcia was born in Lisbon in October 1988. After studying art and architecture, she lived and worked in Rome, Paris, and now in Scotland.. Since 2020, she has kept the page “Linhas Soltas” active, where she publishes short stories. She published eight stories in the platform: Fábrica de Terror” and her short story “Alice” was included in the anthology “The Best Stories from Fábrica de Terror – Vol. 2”.
She published also the short story “Collector” in the sixth issue of the literary magazine Palavrar, and participated in the anthologies IN/SANIDADE (2024), and DÚZIA (2025), under the Divergência Publishing Group, with The Doorman and Memory Street, Number Twelve, respectively. In 2024, she won the Ataegina Prize in the Original Short Story category with The Improbable Chances of Mister Rayleigh.