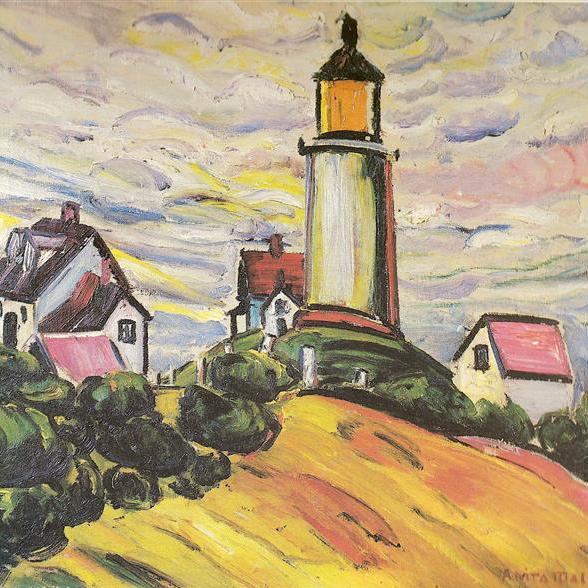Poems from the book:
Romance dos desenganados do ouro & outras prosas
(São Paulo: Faria e Silva, 2024)
VIAGEM DE ACABAR
ou
LEOPOLDINA REVISITED
... empurro a pedra sem acreditar no mito. Miguel Torga
Nota explicativa
Em 1920, o adolescente português Adolfo Correia da Rocha, natural de São Martinho de Anta (Trás-os-Montes), desembarca do paquete Alianza no porto do Rio de Janeiro, onde o aguarda um tio paterno, proprietário de terras nos arredores da cidade de Leopoldina, Zona da Mata do estado de Minas Gerais.
Ao longo de quatro anos, o jovem trasmontano será “uma simples máquina de trabalho” na fazenda do tio, até que este resolve matriculá-lo no Ginásio Leopoldinense, ocasião em que descobre a poesia e o cinema.
A bordo do navio Andes, o tio retorna a Portugal em 1925 junto com a família, incluindo o sobrinho. Como paga pelos serviços prestados em seus cafezais, decide custear os estudos de Adolfo na Universidade de Coimbra.
Aos 27 anos, o médico Adolfo Correia da Rocha adota o pseudônimo de Miguel Torga. Com o prenome homenageia dois escritores espanhóis de sua predileção – Cervantes e Unamuno –, enquanto no sobrenome refere uma espécie de arbusto típica das terras trasmontanas.
Em meados de 1954, o poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo Miguel Torga chega ao Brasil para participar do Congresso Internacional de Escritores em São Paulo. E aproveita a estadia para uma viagem sentimental a Leopoldina. A partir das lembranças das tantas estações da via-sacra de sua adolescência no leste das Gerais, Torga escreve os quatorze poemas aqui coligidos.
Não se sabe ao certo se enviados posteriormente, esquecidos ou deixados com Dona Micas quando da passagem do escritor por Recreio, tais textos chegaram a minhas mãos graças aos Fiorese que, residindo nesta cidade, intercederam junto aos herdeiros daquela senhora. Fiz apenas acrescentar-lhes o título sob o qual vão publicados.
Esta a ficção que arrima os poemas a seguir.
Primeira estação
Antes atirar-me às águas do Doiro
E fazer da morte um repto ao empíreo
Que cumprir um fado de mau agoiro
E os dias trair entre cotos de círios.
Antes sofrer do Pai ir às do cabo
E a vergonha que sou lançar-me às fuças,
Pois, ele lá sabe, não menoscabo
O santo e senha que este chão rebuça.
Antes tornar-me num desses escravos
De agora e de sempre, sem fazer caso
Da pátria onde hei-de amargar o travo
De mudar-me em homem antes do prazo.
Antes o Brasil, essa esfinge inteira,
Que uma terra assim maninha de frutos
E sonhos. Portugal que me não queira
A atravessar o Atlântico de luto.
Segunda estação
São horas de emalar a trouxa…
Camisas, ceroulas e colchas…
E ir-me ao baptismo sem padrinhos…
Cinco toalhas, fumeiro e vinho…
Abre-se um abismo em mim
De lés a lés – mas digo sim.
Foi o fado que me agarrou
P’lo cu das calças e atirou
Contra o chão duro do presente.
Quanto ao que me passa em frente,
Um mar de febre e aflição,
Em som de guerra, digo não.
Já tanto ficou para trás…
Mirandela, Régua, Vinhais…
Já tanto se me perdeu…
Alijó, Sabrosa, Viseu…
Portugal a fugir de mim
E eu dele – porque digo sim.
Aqui trago o mais que me resta,
Nesta mala de mão modesta,
Meu madeiro, meu Portugal,
A guardar o bem que há no mal
E este migalho do Marão,
Que sou eu – e a quem digo não.
Está apenas a começar
A dura viagem de acabar.
E às tantas desfaz-se a infância
E fica apenas esta ânsia
De partir pra longe de mim
E do chão onde digo sim.
Só não me aparto desta mala,
A cruz que me salva e sinala
O início da via dolorosa
Que todo emigrante desposa
Por ser bicho de má nação,
De longada entre o sim e o não.
Terceira estação
O caos apavora menos que ver
Os meus deuses devagar a morrer:
Pequenos deuses que trouxe de Anta,
Ainda mais pequenos porque é tanta
Terra, tanta água, tanta assombração,
Que até parece que deste chão
Ninguém tem conta, peso ou medida.
Contra essas criaturas mal paridas
Pela noite imensa, descomunal,
Que podem os meus deuses de quintal?
De que vale ligar o nome aos bichos
Se tantos e tão iguais nos caprichos
De morder, picar, rasgar e varar
Este corpo, assim magro e alvar?
Por aqui, nada do que eu sei concorda;
Tudo rebenta, difere, desborda.
Tal e qual desmedido latifúndio,
É tudo uma confusão de gerúndios,
De coisas à larga se abrindo, ardendo,
Parindo, crescendo – sob mil sóis sendo
A cópula de Babel com Paraíso.
É preciso outro estalão, outro piso.
Aqui, nada vale ou pouco prescreve
A ciência de meus avós almocreves.
Para amansar tamanha geografia,
Feita de barbárie e de utopia,
Não há arado ou gadanha que baste,
Nem homem que se não mude num traste.
Quarta estação
Há noites em que me deito
No colo da Mãe ausente
E sinto assim o que sente
Um moribundo no leito:
O chamado dessa terra
Que virá cobrir-lhe o peito,
Chamado que nunca erra…
Saudade, culpa, serpente
– Seja o nome que se dê
Ao que me leva urgente
Ao colo da Mãe ausente,
Nele estou todo à mercê
De medrar fora da leira,
À monda de qualquer gente.
As noites nesta fronteira
Seriam uma morte inteira
Não fosse o sonho ingente
Que teima dentro aqui
Como quem brinca e sorri:
No colo da Mãe ausente,
Ser o infante que perdi.
Quinta estação
O Cristo teve apenas um Cireneu
Que o ajudasse com o lenho,
Enquanto eu,
Na minha humana pequenez,
De vez em vez,
Encontro um e outro – só meus.
É escusado:
Por não ter deuses, nem ser
Um deles,
E recusar qualquer poder,
Mesmo o mais reles,
É que preciso das mãos doutros homens,
Ainda que falíveis,
Maninhas,
Incorrigíveis,
Tais como as minhas.
Não direi nomes,
Essa coisa que nos some
Do ouvido e da memória,
Logo que a campa das horas
Nos vem devolver ao pó.
Direi, no entanto e agora,
Ao modo do eiró
De onde vim,
Que ao fim de contas
Tudo são contas – a pagar.
E assim
Hei-de pagá-las a eito
(Nunca ao par)
Se o tempo mo deixar;
Não com o oiro que não tenho,
E muito menos com algum perfeito,
Inédito engenho
De rimas ricas e metro solar.
“Quem tem sangue faz chouriços”,
O povo diz, e diz bem.
Eu cá tenho palavras
E, por causa disso,
Faço delas o que posso e me convém:
Esses versos sem jeito,
Arrancados ao rés-do-chão,
Não como um preito
Aos que, com suas mãos,
Deram-me corpo e remate;
Porque a esses
Não há verso que lhes pague.
A minha homenagem
É a vida que levei
E levo.
Foi dela que desentranhei
Cada verso,
Como se desfazer-me da bagagem
Pudesse abrandar o reverso
E o saibro da romagem,
Quando cada palavra
É um prego mais que cravo
Nesta cruz que tem
A medida exacta
Dos meus pecados.
Não vos digo que os meus Cireneus
Me tenham ajudado
A carregar o lenho.
(Isto é coisa que só merece um Deus.)
O que me deram e tenho,
Como bens sagrados,
São estas mãos duras,
Concretas,
Inquietas,
Sempre a meterem-se nas luras
Da humana aventura,
A ver se daí tiram algum lume.
E esses Cireneus deram-me também
O costume e o gume
Das palavras necessárias e devidas
– Verbo a jeito de palmatória –,
Aquelas que têm o saibo da vida
E livram-me dos mimos da oratória.
Pois bem:
Pelo que me respeita,
Gostava que um único verso meu
– Dos muitos que tenho escrito,
Como quem carrega
De rimas e mitos
O rabelo sem espadela
A que chamam vida –,
Que esse verso fizesse
Pela alma dorida dalgum leitor
O mesmo que fez,
Por um menino aterrado
No Brasil da sua desventura,
Aquela benzedura
Dum preto mal-encarado:
Talhou a erisipela
Que enchera-me a perna.
Sexta estação
Não se chamava Verónica,
Nem propriamente limpou-me
O cuspo e o suor da cara;
A carne nada canónica,
Pelo contrário, matou-me
A fome mais chã e ignara.
Pelo contrário, fez suor
Em mim – e cuspo e mais coisas
Que um menino não governa
E são sua ânsia maior,
Como nau que sempre ousa
Navegar contra a lanterna.
Não era musa nem santa,
Nem lhe deixei o meu rosto
Estampado nalgum linho.
Se milagre houve às tantas,
Foi tal como o do mosto,
Que sem ar muda em vinho.
É nas horas mais danadas,
Quando me falta lugar,
Que me lembro de Belmira,
Minha Verónica usada,
Uva prestes a azedar
Num paraíso de mentira.
Ah, Belmira, obra de oleiro
Descuidado! Tão surrada
Pela miséria dos trópicos!
Em ti, eu me perdi inteiro
Entre ser lume e ser nada
– Este meu drama ciclópico.
Sétima estação
Muda-se a língua, muda-se a paisagem,
Muda-se a trama, muda-se a medida;
Para o menino é já outra a partida,
Dum jogo o mais animoso e selvagem.
Pudesse ao menos este país-miragem,
Junto com as guturais desabridas,
Amaciar-lhe as muitas quedas doridas
Que há-de encontrar nesta sua romagem.
No entanto, mal acorda para a terra
E é já moiro sem féria ou valia,
A respigar dentro de si uma guerra.
E à conta de mudar-se cada dia,
Também muda a questão que o aterra:
“Como regressar se sou travessia?”
Oitava estação
Onde estejam é Jerusalém!
Barafunda e lágrimas de quem
Pisa com desdém
O amor que me é raro
E não lhes cabe.
Porque eu sou todo desamparo
E a espera urgente de que desabe
Esta carne com que mascaro
A dor que apenas a alma sabe.
Oh! mulheres desta Jerusalém
De todos e de ninguém,
Vosso choro
Não quero nem mereço!
Guardai para outro
As pancadas em vosso peito,
Guardai vossos corpos
Para os moços
Que vos possam dar um leito
Perfumado, risonho e fresco.
Ou então,
Guardai-vos inteiras,
Sob grossos panos,
Para a alegria que me passará ao largo,
Embora por ela endureça a mão
Contra os tiranos
E faça o meu canto alto e claro
Para tocar todo coração
Humano.
Porque dias virão,
Oh! mulheres de Jerusalém,
Em que vossos nomes ressoarão
Na boca dos filhos que não geramos.
E pelo oceano além
Hei-de carregá-los comigo,
Na minha própria carne tatuados;
Hei-de carregá-los ao abrigo
Dum poema
No silêncio amortalhado.
Oh! Lia, Dina, Norma, Rute, Iracema
(E as muitas mulheres que não cantei,
Por pudor ou algum outro senão),
Dias virão
Em que o amor não mais será
Meu Agnus Dei,
E a simples menção
Aos vossos nomes
Há-de derrubar as muralhas que ergui
À volta de mim.
E assim,
Vossos corpos brejeiros,
Perdidos junto com o chão brasileiro,
Formarão uma pátria inteira,
Sem nome
Nem fronteira,
Onde seja o bicho-homem
O único deus adorado.
Mas, oh! mulheres de Jerusalém,
Eu, tal e qual como sou e sei,
Dessa pátria também
Só o exílio conhecerei.
Nona estação
Sou eu que somo e transporto
As contas da míngua alheia.
Sou eu que, num borrão torto,
Registo a meada da teia
Que amortalha em vida
Essa gente já nascida
Com dívidas a pagar.
Virgolino ………. Dois litros de cachaça
(Zero na conta é sua menor desgraça.)
Jesuíno ………….. Uma enxada jacaré
(Do mundo só conhece os pontapés.)
Quem há-de averbar à conta
Dos senhores da História,
Em soma que tanto monta,
Essa miséria inglória?
Por tantos bichos sem chão,
A passar de mão em mão,
Quem há-de testemunhar?
Anacleto, pai ………. Meio metro de fumo
(Ao filho legou o mesmo triste rumo.)
Preto Valentim ……. Quatro rapaduras
(A morte já enfeita-lhe a figura.)
Que fique neste borrão,
Como uma nódoa eterna
Ou dívida sem perdão,
O crime de quem governa
O número contra a vida,
E com gadanhas medidas
Faz esta terra sangrar.
Décima estação
As desgraças do Brasil eram duas, agora são três: a formiga cabeçuda, o italiano e o português.
Ninguém perdoa,
Nesta terra de camisa aberta,
Um galego sem pátria certa,
A despegar-se lento
Do seu reino de pedras,
A chorar por dentro
O mal dessas lonjuras
Toda feita de esperas
E agruras.
Tal como Adão
Fora do paraíso,
Se me recusam qualquer chão,
É sempre sáfara, a terra que piso.
Diante da minha nudez,
Por mais que faça,
Cobrem-me dum riso
Duro e ruim,
Porque sou dessa raça
De acabados arlequins,
Que pela terra fora passa
A carregar o guizo
Que mete Deus naqueles
Com que não gasta
Sequer a mais reles
Das suas graças.
Por absurdo do destino,
Sendo Adão,
Sou também um peregrino:
O Cristo,
Naquela negra hora da paixão
Em que o despiram de suas vestes
Até ao barro da humana condição.
Por que sejam, então,
Os dias e anos de nudez agreste,
Sem luz e sem pão,
O sudário que meu canto veste,
Baralhou-se a minha voz assim
Com a desses homens
Desterrados,
Perseguidos
E humilhados
Por aqueles que não sabem
Que a nudez do começo
É a mesma do fim.
Décima primeira estação
Hóspede em casa alheia,
Em má hora aqui chegado,
A aguentar o peso vivo
Deste chão arrevesado.
Sem lugar à mesa
Num banquete de comensais mofinos,
Fazem-me de fel e vinagre,
Enquanto em silêncio rumino
O acaso ou o milagre
De não sei que salvação.
Como um bicho perseguido
Pelos argumentos do sangue,
Desperta o nómada em mim,
Entre o céu desmedido
E o chão mutilado,
A desafiar o destino malsim
De ser até ao fim
Um outro crucificado.
Décima segunda estação
Ando de luto por mim mesmo,
Pois, de quanto fui em menino,
Restou-me apenas este chouto
De passos trocados e a esmo.
Morto o moleque do terreiro,
Este que regressa em desafino,
Entre os seus não encontra couto,
Pra sempre estranho e estrangeiro.
São dum outro o corpo e a voz,
Que o menino resta aterrado
Junto dum cafezal de Minas,
À sombra de passados sóis.
Hei-de voltar eternamente,
Sem jamais emendar o fado
De uma pátria que me destina
A outra, como penitente.
Carrego esses fantasmas vivos:
Duas pátrias guardadas em sal
E o menino que a mim me obriga
A essas canções em negativo.
Andamos de luto por nós,
Pois, de quanto foi Portugal,
Restou-nos a terra, a língua
E essa saudade sem foz.
Décima terceira estação
À moda de cá, sou um torna-viagem,
À moda de lá, um galego a menos.
E por ambas estou condenado
Ao mais magro aceno
Dum país sonhado
No sal da saudade.
Sem ar de cadáver,
Morreu-me a criança inteira
Na epopeia escrita a enxadão.
É de pedra e gelo
O colo que me dão
Na pátria repartida e alheia
Ao meu rosário pagão,
De contas maceradas
Contra este coração
Do berço desencontrado,
Mas por nada
Desterrado.
E se quero escutar
Uma cantiga de embalar,
Eu próprio que a faça,
De mistura com o silêncio
Do meu povo amordaçado
E com o grito de nossos heróis
Envergonhados
De nós.
Décima quarta estação
A hora é de sim ou sopas.
E como já não caibo neste chão,
Muito menos na roupa
Do menino desterrado de então,
Que seja aquele morto,
A cantar contra mim e contra todos
E tudo – sim ou socos
Para arrancar o futuro do lodo.

Fernando Fiorese was born in Pirapetinga, Zona da Mata Mineira, on March 21, 1963. He has lived in Juiz de Fora (MG) since 1972 and was part of a group of poets, writers, visual artists, and photographers who, during the 1980s, published the poetry pamphlet Abre Alas and the magazine d’lira. A poet and short story writer, he made his debut in 1982 with the book Leia, não é cartomante, followed by Exercícios de vertigem & outros poemas (1985) and Ossário do mito (1990), all poetry collections. He also published the essay Trem e cinema: Buster Keaton on the railroad (1998), in addition to short stories and poems featured in collections, anthologies, and journals in Brazil, Italy, and Portugal.
As a professor in the Department of Communication and Arts at the School of Communication and in the Graduate Program in Literary Studies at the Federal University of Juiz de Fora (UFJF), and as a member of the research group “End-of-Century Aesthetics” at the School of Letters of the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), he conducts research in the fields of Cinema and Literature, with regular publications in essay collections and academic journals. The poems here published are part of his new book: Romance dos desenganados do ouro & outras prosas (São Paulo: Faria e Silva, 2024).