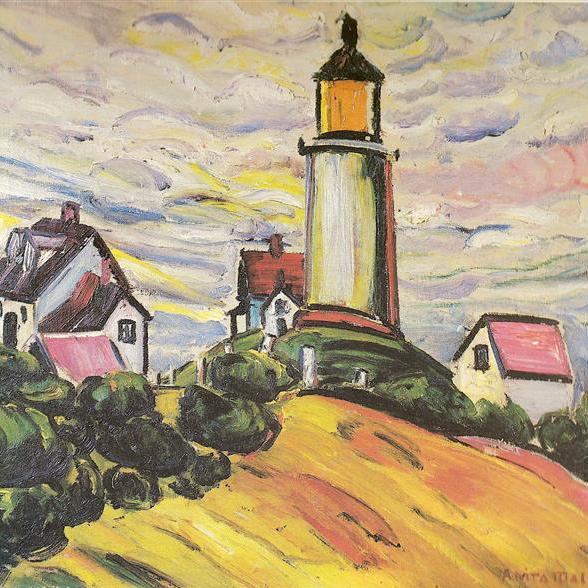a Última gota*
Andei a vida a colecionar. pedaços, rabiscos, memórias, apertos no coração, mal entendidos. a transbordar, a minha gaveta já não tem mais lugar. acabou-se o espaço. e a sua resistência também. Não há bolso que aguente tanta informação. Pilhas e pilhas de pecados, semi-folhas amareladas e memórias por armazenar sem ordem alfabética ou qualquer organização lógica funcional. Ando a vida, maldita, a recolher coisas, apanhar garrafas antigas, pedras na praia, guardar cacos de vidro de várias cores. Antes de ontem, quando fiz a primeira recolha de manhã cedinho, um miúdo perguntou se eu era catador do lixo. Sem antes responder, aumentou outra pergunta: se precisava de ajuda no que estava a fazer, para, em troca,lhe dar só cem kwanzas pra comer qualquer coisa.
Dei-lhe o dinheiro, a única moeda que tinha no bolso, e mandei-o embora, mesmo sem dizer nada. precisava de silêncio para aquela operação. Aliás, precisava de concentração. Mais concertação do que silêncio. era rara, entretanto, essa coisa de silêncio na Ilha de Luanda, por mais cedo que para lá fosse. Cinco da manhã, os embriagados das casas noturnas ainda estavam nas da porta, o que levava uma eternidade. Oito da manhã, começavam as movimentações dos miúdos vindos dos musseques, prestes a fazerem da praia a sua fonte de sustento. Nisso tudo, uma ilha das palavras. o barulho não era assim um problema tão grande para as minhas missões. Era a concentração que me ajudava a distinguir o lixo do lixo com valor. ando nessa vida de catador, acho eu, há alguns anos. tenho dias específicos. quartas, quintas e domingos. não me perguntem o porquê destes dias. ando nessa vida de catador porque tenho medo de acordar nú. Sem nada para me lembrar desse passado que insiste em me escapar à memória.
Lembro-me, vagamente, da minha primeira colecção como me lembro das pérolas que encontrei espalhadas na Marginal antes de ontem. mais de quarenta lapiseiras da marca bic. coleção rica, brilhante aos meus olhos d’altura. Pretas, vermelhas, até verdes mesmo, mas grande parte delas eram azuis. Foi a primeira coleção não legitima que tive. grande parte das lapiseiras eram roubadas. Algumas recolhidas, na verdade, porque os meus colegas esqueciam ou abandonavam debaixo das carteiras. essas eram as mais sujas, mordidas nas pontas, com tampa estragada. as novas, novinhas mesmo, essas eram mesmo roubadas, confesso. Era eu o grande mistério por detrás dos materiais escolares que desapareciam logo na primeira semana de aulas. Nunca o fiz por mal. Precisava dessas lapiseiras. dessas muitas lapiseiras. para redesenhar, a tentar escrever, esse meu problema de expressão.
voltei a odiar a morte, num dia desses, mas esqueci-me do porquê minutos depois. Percorri quilómetros, sentado, à procura disso mesmo. Refugiado, num banco azul-escuro, à porta do nosso prédio na Maianga, tentei reconstruir essa infância que nos disseram que tivemos aqui. das brincadeiras que fizemos na criancisse – diziam que eu gostava de ser o papá – e dos canos rebentados que um dia inundaram esse prédio todo, como me contam que afinal lemos n’Os transparentes. A minha mãe terá dito que era mesmo verdade, o prédio tinha mesmo ficado todo encharcado, os outros meninos brincaram na água podre dos canos rebentados, eu chorei ao ver aquele cenário, toda aquela água a jorrar indiscriminadamente. Não me lembro da voz dela, paira um cheiro vago algumas vezes. foi a Marta, do terceiro esquerdo, que me contou isso assim detalhadamente. Era a única que ainda tentava me guiar, cuidadosamente, a essas memórias do passado. Qual cão-guia aos cegos europeus.
Recolher pedaços do mundo, para a manutenção da minha própria sanidade, era como essa tentação irresistível de mandar para o caralho as regras, misturar plural como singular, tu com você – o você fizeste que se ouve nas periferias de Luanda – ou o meu descaso com a ordem das letras maiúsculas e minúsculas. quem me dera ser onda, conseguir lembrar onde tudo isso começou. Mas isso já não faz diferença alguma: que mundo seria esse, o meu, sem detalhes que me contassem alguma história, mostrassem algum passado? Um raciocínio lógico é tudo quanto clamei desde que me lembro de ser gente, é que nem isso sei exatamente apontar quando foi. viver Luanda como se fosse recém-nascido é viver mesmo vida de bebé fresco em corpo impuro de adulto. ouvir notícia na rádio nacional sem perceber nada, celebrar cinquenta anos de independência sem saber a que porra todo mundo se refere quando fala em julgo colonial. a minha própria independência, segundo insiste me cofidenciar a Marta, começou numa quarta-feira qualquer. cresceste nas urgências do hospital Josina Machel. dia sim, dia não. eras mesmo normal mas ninguém entendia porquê que não falavas nada, não falaste nada até aos onze anos.
guardei, para mim, esses onze anos de puro silêncio. viver calado numa terra da oralidade – silêncio absurdo nesse mundo vagabundo luandense, de barulho todos os dias, de zungueiras que deambulam a cidade a vender o peixe, berrando eh carapaué, eh carapaué, de mandar chamar polícia porque o vizinho tem música alta no domingo às vinte e duas horas. E ele responder: mas só tou a tocar o boda, do Kota Paulo! Sem dança das cadeiras, nem palavras, a Marta diz que esse meu caso era muito estranho, inédito mesmo, aqui no nosso prédio. por lá já tinham visto de quase tudo: vizinho normal que ficou maluco porque recebeu feitiço para brilhar, criança com síndrome de down, pessoas com problemas de células, crentes que passaram a odiar Deus, tetraplégicos, depois de acidente gravíssimo na ilha – mas nunca uma criança normal que não dizia absolutamente nada. Ao contrário dela, da própria Marta, eu não era mongolóide, pelo menos não aparentemente. Esse mistério corroeu a minha mãe. Talvez foi isso que lhe matou.
De hospital em hospital, sem resposta, a Marta diz que os meus pais desistiram mesmo da medicina convencional. Lá mandavam fazer muitos exames, dia após dia, chegaram mesmo a dizer que tinhas malária cerebral, era por isso que não falavas. Era só fazer quartem intensivo e ias mesmo começar já a falar brevemente, os médicos angolanos prometiam.O Dr. Raul Gonzales, médico cubano que veio morar no nosso prédio no final dos anos noventa dizia que eso es mierda de mercenario, este niño no tiene nada de malaria. Marta lembrava até o sotaque desse senhor que não me lembro de ter conhecido, mas cujo nome aparecia sempre nessas conversas sobre os passados do nosso prédio. Uma figura mística cujo sotaque pairava no imaginário comum dessas nossas vidas aqui do prédio; foi mesmo o primeiro pula que conhecemos. Ele insistia que não era branco, que era cubano. Nós, as crianças daquele tempo, desacreditávamos. Ele era um branco cubano para nós mesmo.
Ouvir a Marta falar me fazia sempre pensar nesse mundo onde a lembrança informa o presente. Ela era o que era – e falava essas coisas que falava, apesar de às vezes muito rápidas para o meu gosto – porque se lembrava dos ontens que viveu, na sequência lógica dessa vida em ordem cronológica. E, na minha cabeça cheia de problemas desde que fui criança, isso desembocava sempre no mesmo lugar: na escuridão vazia desse meu mundo sem ontem. aprender a engatinhar todos os dias, repetir um processo humano único – nascer bebé fresco sem memória – diariamente. Sempre que conseguisse lembrar de alguma coisa que fiz, comi, ouvi ou falei no dia ou semana anterior, era vitória grande! Inglória, entretanto. Quase nunca durava mais de vinte e quatro horas.
Dessa vida me lembro permanentemente de poucas coisas. desse prédio transparente no centro da cidade, dos meus pais que me abandonaram não sei quando, e da Marta – a única pessoa com quem converso todos os sagrados dias. Quando uma vez uma vizinha nova, nova mesmo, sugeriu que eu fosse à um terapeuta da fala para tratar desse meu problema, a Marta riu-se dela. Eu também ri, a coçar as pernas, aparentemente mais do que devia. Estou mesmo a falar à sério, a senhora baixinha de lenço na cabeça, nos repreendeu. Também tenho um sobrinho, dois mesmo, que têm esses problemas mentais. Primeiro começaram a falar que é feitiço, é maldição dos pais, mas depois mesmo lhes levaram no terapeuta. E depois?, a Marta perguntou. E depois?, eu imitei a pergunta da Marta. A senhora olhou para nós da mesma forma que os miúdos da ilha olharam para mim ontem de manhã. Tipo que estão a olhar para pessoa doutro mundo. E depois eles mesmo foram melhorando, assim assim… não melhoraram de tudo tudo, mas já se comportam bem melhor e às vezes tentam mesmo ir à escola… A Marta soltou mais uma gargalhada. Eu já tive medo de irritar a senhora.
A Marta era a única forma que eu tinha de me manter vivo. Não dessa forma que se gosta de pensar sobre vida e morte, biologicamente falando das coisas. Mas tão relevante quanto isso. Se nascia todos os dias, quer dizer que voltava para a estaca zero a cada manhã. Como um bebé mesmo que precisa de mãe, de pai, de tio, de tia para comer, trocar a fralda, dar de beber água, medicar, dar banho. Como nem tudo no mundo é desgraça inteira, algumas chegam só pela metade, eu conseguia fazer essas coisas todas sozinho. Aliás, fazia mesmo desde que vivo sozinho. A Marta diz que há quase oito anos, eu não sei o que são oito anos numa escala temporal. Para mim, equivale ao mesmo que um dia. Mas ela dizia que não.E eu concordava. Continuando: vivia sozinho nesse pequeno apartamento da Maianga, sem mobília nem coisas que pudessem causar perigo como fogão, cafeteiras, panelas, garfos, nem facas.
Essa casa foi mesmo a única coisa que o teu pai deixou antes de se ir embora, a Marta me lembrava todos os dias. Eu também tentava lembrar mesmo esse dia. Buscava as fotografias, na coleção dos álbuns e fotos de família que o meu pai esqueceu, ou mandou à merda, para tentar reconstruir essa parte da minha vida. Eras muito miúdo, muito miúdo ainda, a tua mãe já tinha morrido, estavas provavelmente a dormir quando ele saiu e nunca mais voltou, ela especulava. E era por isso que era parte tão integral dessa minha confusa existência, era ela que me relembrava o que era isso de viver – a minha memória histórica fora do meu corpo.
Foi mesmo isso da história que me fez começar as colecções. Num é só roubo, maluquice, coisa de maluco da cabeça. Essas rolhas, palitos, garrafas, conchas, pedras, anéis, pulseiras eram a minha forma de revolucionar a minha síndrome. Buscar sentido nas coisas, encontrar sentido nessa existência desprovida de passado. Nas colecções, isso não existia. Um item puxava o outro. complementares, contavam histórias uns dos outros, fossem elas de verdade ou de mentira. Quem me dera a mim ter uma memória, nem que fosse de mentira. Nem que não fosse só minha. Desde que estivesse comigo. Sentia que olhar fixamente para as pedras, por exemplo, me ajudava a lembrar um bocado do sítio de onde lhes apanhei, colhi ou roubei. Porque as pessoas já me achavam de maluco – mesmo quando eu insistia que não, que sabia bem o que estava a fazer – elas nem davam pelos meus roubos. Mas também não eram roubos assim de grandes roubos, não assaltava nem roubava dinheiro das pessoas. O dinheiro trabalha-se não se rouba, a Marta me alertava. Os meus roubos eram específicos. E dependiam só da colecção relevante aquando do roubo. Não me considerava gatuno, ainda assim. Não tramancava nem nada disso. Furtava, silenciosamente. A Marta, que era sempre moralista, não me julgava. É reparação histórica, porra!, ela própria dizia.
Portadores-de-necessidades-especiais era a forma mais hilariante que as pessoas tinham de se referir a mim e a Marta. sempre que ouvíssemos essa longa, intrigante, expressão, ríamos até perder a graça. Penso que fruto dessas nossas necessidades peculiares mesmo. As pessoas, entretanto, ficavam ainda mais chocadas do que quando nos vissem pela primeira vez. Essas gargalhadas tinham um efeito interessante: parecia que as inibia de nos tratar com todo aquele paternalismo esperado numa interação entre uma pessoa-sem-necessidades-especiais e um portador-de-necessidades-especiais. Há dias, como hoje, que queria mesmo ser normal. rapaz da minha idade. imaturo, com tesão pra dar, tesão para receber. Aprendia mesmo essas palavras na Malhação da Globo, onde nunca vi ninguém que esquecia tudo, todos os dias, nem pessoas que se babavam regularmente como a Marta. Mas porra! Nós éramos mesmo normais. Brincávamos com tudo, riamos desse mundo, provocávamos os próprios genitais, conversávamos em silêncio.
Quando uma vez escutei que isso de colecionar lixo era mesmo coisa de família, o meu mundo deu duas voltas. A burra da vizinha, desculpa, a vizinha que disse isso pensou que me estava a ofender chamando uma das minhas coleção de garrafas de lixo. De família, como assim?, perguntei-me a mim mesmo. Fui logo correr à Marta para ela me explicar bem aquilo. A Marta estava cansada naquele dia; também tinha muito trabalho naquela casa. Onde já se viu uma portadora-de-necessidades-especiais ter que cuidar de uma casa inteira e dois bebês, da tia dela, chatos pra’caralho? Já lhe tinha dito para vir mesmo viver lá na minha casa mas não tinha cama, nem lençol, nem almofada para ela. Ela se ria dessa proposta. Dois malucos juntos numa casa? Isso num dá certo. Além do mais, é daqui da minha tia onde sai a comida que te dou todos os dias. Tinha esquecido mais dessa parte. Marta num pode mesmo sair daí. Vou comer o quê? Mas fui logo direto ao assunto: Marta, aquela vizinha burra, desculpa, a vizinha disse que esse lixo é de família, assim queria dizer o quê? Ela ficou parada, como eu fico quase sempre.
Às vezes ficava mesmo só sentado no terraço do nosso prédio. ver Luanda dos normais, a partir daqui. Carros dispersos, pessoas entre os carros, policiais doentes de tão corruptos, Estado em chamas. tantos atentados diários à normalidade. tantos absurdos nessa concepção normativa de mundo mas o problema eramos nós – os malucos da sociedade. Foi por isso que o meu pai foi embora, gostava de assumir. Homem angolano sem mulher a cuidar de filho especial? Nem já nos piores pesadelos. Foi por isso também, e a Marta me contou isso hoje de manhã cedo, que há alguns anos o governo mandou recolher todos os doentes mentais que deambulavam pela cidade – porque Luanda seria visitada por um grande presidente branco, desses genocidas, líderes das grandes potências ocidentais. A missão terá sido dirigida pelo próprio Ministério da Saúde. O seu objectivo era claro: esconder todos os doentes mentais, anti-normalidade, caras da estranheza que abominam a sociedade. Apesar de soar à ficção, não duvidei de nada dessa história, nesse país onde somos mais repugnantes do que abusadores sexuais, assassinos, corruptos. é o que sentimos na pele todos os dias.
Nesse dia, regressei ao apartamento mais tarde do que o comum. Paredes brancas rabiscadas à carvão, sala de exposição a céu aberto. Logo que chegava tentava apontar todos os detalhes mais importantes de que me lembrava. Nomes de pessoas, lugares, datas, acontecimentos históricos. Não que me fosse muito útil – pois podia ler sem saber do que se tratava – mas era como as coleções, uma esperança de passado para o futuro. Às vezes relia e me auto-torturava: tentando entender as origens daqueles anotações na parede, e falhava. Seguia, e ia visualizar, à distância, os objetos colecionados, uns em ordem, grande parte deles misturados, dispersos. apesar de não fazer quase nada durante os dias, não tinha tempo para organizar aquelas coisas. Sentia que precisava desse tempo para ler esse mundo, para me fazer entender nesse mundo onde sou agente estranho.
Da janela deste apartamento, vejo a beleza que é ser visitante branco nessa terra preta em que nasceram os meus pais. Todos na luta para impressioná-los. eles, os expats, tornam-se atração fácil nas ruas desta cidade. os lavadores de carros lutam para serem os escolhidos que lhes arranjam algum lugar para estacionar os carros, os miúdos pedintes clamam, com alta expectativa, por mais um kwanza ou um pedaço de pão, e até os polícias se tornam corruptos mais sofisticados e começam já pedir gasosa em euros ou dólares em vez do kwanza burro. daqui, vejo mesmo que veneramos o que sabemos ser alheio. talvez seja aí onde reside o seu valor. Nós, os doentes daqui, também não pertencemos a este mundo, nem a nenhum outro, e é pena que o desprezo com que nos tratam resida nisso também. Mesmo quando estamos em silêncio, essa máscara sem palavras que usamos para simular normalidade, desconseguimos de sermos vistos com olhos de ver. Forçar mudez, calar quando me dá vontade de gritar, é a vontade que tenho quando os olhos deles me cruzam a cara, quando perguntam se está tudo bem?, naquele tom condescendentemente irritante. o silêncio, no meio destas paredes riscadas, é um bálsamo para esta ferida cuja profundidade nunca nem vi.
A última gota, desse cálice de surpresas que se tornou a minha vida, foi quando a Marta confirmou que isso era mesmo coisa de família. O tio Zeca, que ela me mostra quem é numa das fotografias amareladas do baú, era grande colecionador de jornais do tempo colonial. Houve uma altura em que era difícil percorrer a casa do velho, tantos eram os jornais que envolviam a sala, a cozinha, os escritórios e os quartos, ela contava com interesse. Esse teu tio, era fiel amante d’Província de Angola, onde chegou a assinar uma coluna de cultura ainda no tempo do branco. A Marta disse que conheceu bem esse velho. Hoje não sabe dele, se tá vivo ou tá morto. era tio da minha mãe, preto assimilado, arrogante, já naquele tempo. Mas você já conhecia bem esses tempos, Marta? deu uma pausa antes de responder, para limpar a boca. É claro que conheço! Eu assisti, daqui desse prédio, outrora propriedade alheia, Neto proclamar, perante à África e o mundo, a independência d’Nngola… Tinha uns nove e tal anos já naquele Novembro, ela disse. Mas, então, Angola já é mesmo independente, Marta? Eles dizem que sim, meu filho, eles dizem que sim...
*Conto vencedor da 43.ª edição do Prémio de Literatura Juvenil Ferreira de Castro

Israel Campo, Fotografia de Daniel Mordzinski.
Israel Campos (Luanda, 2000) is an Angolan writer and journalist whose work explores memory, history and youth political activism. He is the author of the novel E o Céu Mudou de Cor (Kacimbo, 2023), which has been featured at literary events in Angola, South Africa, Portugal, and the United Kingdom, including Correntes d’Escritas, one of Portugal’s most important literary festivals. Campos began his media career at the age of 12 as a young broadcaster on Rádio Nacional de Angola.
In 2025, he won the 43ª edição do Prémio de Literatura Juvenil Ferreira de Castro with the short story a Última gota, following an honorable mention in the previous edition. His forthcoming collection, baloiço de memória, won the 2ª edição do Prémio Literário Imprensa Nacional/Casa da Moeda and will be published by INCM. In 2024, he was selected for the CANEX Creative Writing Workshop in Aburi, Ghana, a 15-day residency led by Chimamanda Ngozi Adichie and gathering emerging African writers from across the continent.
Also a journalist, Campos has reported for international media including the BBC, Voice of America, Al Jazeera, and the Wall Street Journal, covering politics, climate change, and current affairs in Angola. In 2024, he was awarded the Prémio Liberdade de Imprensa by the Angolan Journalists’ Union for his investigative feature As Viúvas da Seca de Angola, published by VOA. His reporting has also earned him the EU GCCA+ Youth Award for climate storytelling, and finalist nominations for the international Free Press Award and the Amnesty Media Award in 2022.
Based in the UK, he is currently a PhD candidate in Media and Communication at the University of Leeds, where he researches the postcolonial history of Angolan journalism. He continues to write fiction alongside his academic and journalistic work.