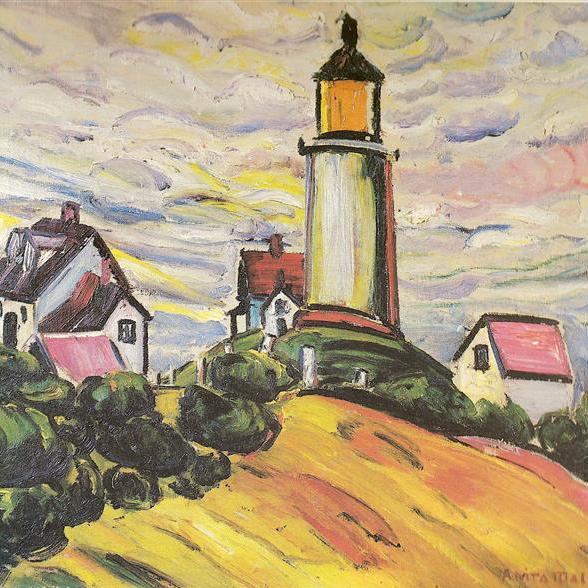não estamos algures, vamos a caminho
Abril será sempre um mês de cores e aromas
de verde límpido, seguro e liso, de folhas complexas e simples.
num período breve, de cachos violetas das glicínias
em volúpia, antes da despedida
e o branco do jasmim, o laranja na altura das estrelícias
o fúcsia de uma flor exótica, luminosa, única –
em Abril, as rosas são múltiplas, e a tesoura decide.
separa uma e outra ainda, de pétalas mais livres
um vestido de alta-costura, invertido, frágil na cinta
mas perde a coragem nas de rosto mais escondido
tímidas, amigas do sol e do melro impaciente
atento ao silêncio dos felinos:
sobrevive –
mais acima, em Concílio, um debate mais fino
sobre a necessidade de acalmar os mares
não maltratar tanto a terra humana
dar início a um período de paz
um interregno:
– nos dilúvios químicos e invisíveis
– no declínio do homem público
– no egoísmo dos nacionalismos
– nas mortes inconsequentes, sem justiça
sem o avesso da pele, ao som do poder e do gatilho –
quanto a nós, 1+1 nesta sala azul
acima dos pés e abaixo dos cabelos
teremos sempre:
– a estrela de luz no centro dos miosótis
– as pequenas pétalas selvagens das margaridas
– as árvores inclinadas e os esquilos junto ao mar
– a ternura de uma carta antiga
– a imensidão no cruzar dos olhos, nos passos contínuos
no vivido e nas fotografias –
a norte, a sul, a este, a oeste desta sala
não podemos acreditar na cor branca dos colarinhos.
a história é turva, longe de ser digna, exige mão de artista.
e a condição humana é uma viagem, apenas no princípio –
mas não estamos algures, vamos a caminho.
teremos sempre mais ou menos inclinação, o oblíquo –
Abril e a imprecisão dos dias –
Sinnerman, a epiderme do mundo está inflamada
a elegância dos flamingos não anima os lagos do pensamento
nem os cisnes voam pelo azul blue sky de uma música de jazz.
a epiderme do mundo está inflamada
e em Dachau encontraram garfos, colheres e facas
por debaixo de torrões de terra:
uma arqueologia da dor de tantos corpos
e um coro enorme, silencioso e morto
só de sombras, sem nomes –
que os jardins se fechem e as flores não abram
estou triste esta noite, doce amor de sempre.
as magnólias perenes estão distantes
e o veludo das pétalas, tão ausente.
que as mãos sejam asas nesta melodia de silêncio
e inventem de novo formas e ângulos
em todos os lugares, não importa as distâncias.
que os olhos se fechem numa tela tão verdade
de pinheiros, caruma e cânticos de aves
na proximidade das brisas breves
de algas soltas e ventos salgados –
a um oceano de distância reconstruiu-se o Commodore:
a metamorfose, o Grand Hyatt, 1400 quartos
o que nada tem a ver com o hotel de Cohen
onde se falava de instantes de fama
de rostos imperfeitos e de memórias vivas
mesmo que se negasse no fim a ferida:
I remember you well, not so often –
na esquina da quinta avenida nasceu uma torre
100 milhões de dólares e uma parede kitsch
já ninguém se lembra dos cimentos da máfia
dos convidados, da matrícula da limousine
nem da náusea do engano na não transparência dos vidros:
talvez a rainha de Inglaterra compre um apartamento!
– marketing e o nascimento do perigo.
depressa demais é a condição neo
neo de liberal e néon de luzes do espetáculo, um palco aberto
falso como um gato persa ou uma caravela a descobrir um Novo Mundo
que não era a Índia.
uma ideia, um objetivo e a prática que se adquire:
uma mentira mil vezes repetida e a verdade torna-se líquida.
o luxo de uma torre e de um jardim suspenso pode não ser magia
uma ilusão apenas
a imagem de um tubarão num mar de peixes pequenos –
1a orquestra não pára de tocar.
existe a possibilidade de cairmos a pique.
será que existe um icebergue na órbita terreste?
agora as ruas de Nova Iorque falam dos mortos
e Bob Dylan lançou um novo disco
passou de novo o Titanic no TVcine.
a epiderme do mundo está inflamada
e ouve-se ainda Nina Simone –
estou triste esta noite, doce amor de sempre.
talvez os astronautas que há pouco partiram
estejam mais tranquilos
lá longe, entre as estrelas e um céu diferente
a ouvir Bowie e a olhar as escotilhas:
tanto azul
e flutua
Walden e a ilha de Cibeles
no móvel de madeira exótica
o perfume da jarra tricotada de cristal
refresca as ideias voláteis de uma tarde improvável:
temperaturas elevadas e o aroma da flor branca
sem nome, segura, soberba e notável
na sua elegância singular: o presente efémero
assumido, sem medo nem mal estar
como solidão bela
no silêncio da casa sossegada
quando o sol ainda alto –
respiras devagar, a instantes breves.
talvez um sonho de um campo aberto
caminhos sem asfalto, a possibilidade de pés descalços
relva fresca, a visão calma do mar, um canto de aves.
talvez um lago, um espelho verde de arbustos e árvores altas
a instantes, a instantes, a instantes breves.
talvez te lembres de Walden e de sentir a vida
longe do fog e de Nova Iorque, porque
a natureza não tem pressa
desvaloriza o alarme
contempla o sol e a lua como a única verdade –
no mais pequeno continente originário de Gondwala
ao lado da ilha de Cibeles
já não há lobos nem diabos da tasmânia
mas saltam ainda os cangurus de pernas fortes
braços pequenos e mãos delicadas
e os antílopes de risca branca e tonalidades várias
a dois metros
num ar triangular de esfinge
eriçando a coluna da atenção para o perigo:
uma questão de sobrevivência se a fogueira avança
se a Antártida derrete e se as praias sem surf
dispensarem contingências e contagens
desertas, enevoadas e solitárias
com barcas de muita gente, nas águas –
talvez a negritude dos eucaliptos e a fome dos Koalas
acendam a ideia antiga do equilíbrio das espécies –
o mundo anda desafinado enquanto respiras devagar.
o gato mexe as patas e no impulso imaginário
sobe o muro, observa a árvore, o ninho e o melro aflito.
não sai do sítio.
30 graus no relógio da farmácia.
um incêndio na serra: povoações ameaçadas.
qual a percentagem de dióxido de carbono sustentável
e as partes de oxigénio necessárias
para alimentar o sonho de tílias como frascos de essências
linces na Malcata, flores silvestres e águas claras?
no youtube e no Bluetooth
a música e a voz de Astrid, o saxofone de Getz.
a circunstância improvável de Carnegie Hall:
o ritmo da bossa nova nada teria a ver com a languidez do jazz
e Gilberto falava de uma galinha a tocar em teclas douradas.
a garota de Ipanema nunca soube do desastre na Amazónia
da indignação dos tratados.
nem Doralice podia adivinhar as mentiras de Estocolmo
as chuvas ácidas
a falácia dos diplomatas: promessas falsas –
enquanto respiras a instantes breves
a ciência sombria recupera o Carpe Diem
e de novo se calculam azimutes e se afina a pontaria.
abriram as fronteiras:
não sei se haverá sempre Paris
e em Veneza já não se recordam os cisnes –
é tão preciso o sonho e mais tempo entre as árvores
mais Leaves of Grass –
a dor de uma única semente pode condenar mil almas –

José Manuel Ferreira (Porto, Portugal, 1957) holds a degree in Communication Sciences from the Lusófona University of Porto and a master’s degree in the same field from the Faculty of Arts of the University of Porto.
He found in poetry a privileged space for listening and revelation—a path that deepened significantly from 2008 onward, under the guidance of the poet Ana Luísa Amaral.
He is co-author of the children’s poetry book Doses de Magia (in collaboration with Ana Luísa Amaral, Raquel Patriarca, and Joana Espain) and author of an extensive poetic body of work, still largely undisclosed to the public.
His poetic writing draws foundational references from Camões, Fernando Pessoa/Álvaro de Campos, Cesariny, Almada Negreiros, Ana Luísa Amaral, Pablo Neruda, and Paul Éluard, among others.
In each poem, he seeks to build a balanced sequence of musical, visual, historical, or mythical elements, guiding the reader, verse by verse, through a scene in motion.
He currently lives in Porto.