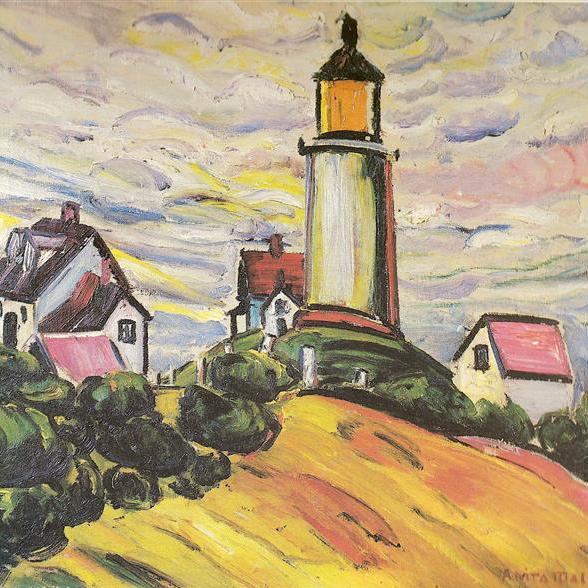VIDA HIGIÉNICA
As videiras invadiam as moradias do meu bairro
transformando-as em casas de duendes
ou de quaisquer criaturas de uma floresta mágica.
De vez em quando aparavam-nas,
descobrindo a arquitectura que a natureza escondia.
Na primavera regressavam,
arrefecendo-as do calor do estio.
Ficavam mais bonitas vestidas,
ao contrário de nós, que somos mais bonitos nus,
desengane-se quem pensa
que o tempo é o precipício tremendo
– as barrigas dilatadas, a pele pendente,
as mamas e os testículos desmaiados
tão belos e honestos quanto os firmes.
Em nós, até uma folha de parra é excessiva.
Ter-nos-ão sempre dito o que é a beleza?
Tornei-me sequela da sequela,
terapêuticas inúteis para o toucador
que não tolera espelho algum,
torrentes de pensamentos atrás de pensamentos
todas resultantes de pensamentos atrás de pensamentos
numa centrifugadora irrefreável.
Analfabeta e cega num mundo de luz branca,
quero reorganizar a cronologia de tudo isto.
Porque as coisas só mudam de verdade
quando um omnívoro que parimos
nos trespassa com o olhar ao qual,
por mais que nos cubramos,
não conseguimos esconder nada.
Para esses olhos, somos mais transparentes do que água,
transparentes com os artifícios em evidência
– as putas das folhas de parra.
A vergonha é um parasita, há que matá-la,
tornar-se o pedinte da Baixa
que desgosta os turistas e nebuliza
um aroma a terceiro mundo
quando expõe as chagas aos transeuntes,
habilitar-se à esmola para perceber
que nem tudo está perdido,
recordar o riso na conversa com um camarada mendigo
– foi nesse cara-a-cara de testas lisas,
nesse intervalo bendito que o dador investiu
(dinheiro bem gasto, feitas as contas).
Eia, botânica do entulho
cuecas nos estendais
pardais que debicam nas mesas das esplanadas
pombos nas gares e nos metropolitanos
e alegrias urbanas quejandas
– se valem muito ou pouco,
deixo-o ao vosso critério.
Pela parte que me toca,
não passeio em todas as ruas,
nem todas são minhas amigas
– as dos antigos amores,
por exemplo,
tornaram-se insuportáveis.
Perdi todas as famílias, abandonei o rio
– deixei de confessar-lhe mesquinhezes e incompetências
para me devolver uma qualquer penitência.
Fazer confissões ao rio e cumprir penitência
salva-nos, mas polui-o – melhor deixá-lo.
Não passeio em todas as ruas,
nem todas são frequentáveis
– as dos antigos amores, por exemplo,
são fétidas.
Não me predisponho a fazer sashimi,
origami, cerâmica nem um quintal de onde
colher alimentos bons com a consciência limpa
– lavem os governos e demais usurpadores do futuro
a merda que fizeram com a energia fóssil, a nuclear
mais o fomento ao consumo.
O meu tempo não é o de hoje nem o de amanhã,
o meu tempo é estúpido, ensimesmado,
um miúdo de cinco anos num corpo quadragenário,
os meus interesses são analógicos,
os termómetros, de mercúrio;
as balanças têm pesos e fiel;
dou corda aos relógios
– o de parede tem um cuco.
Falam-me de vazio quando o que há é torpor;
não há vazio, há uma fome insaciável de consolo;
não há vazio, há a abundância que incha o estômago,
que nos ata à secretária,
que nos cola as línguas aos ecrãs e às vitrinas
– lambemos tudo o que esteja atrás de um vidro.
Não há vazio, há consumo
– riam-se de nós os que não têm nada.
Não há vazio, há sede e esgotamento,
vidas que não rendem, tempo que não estende,
produção de sobra e que ainda por cima não rende.
Oxalá o vazio.
Esvaziamento é perscrutarem-me,
mas virarem a cara ao vendedor de pensos rápidos
dos transportes públicos quando
um olhar de reconhecimento
e as palavras «não, obrigado»
bastam.
Esvaziamento é fitar o horizonte
em vez de correr para ele com lágrimas de alegria
bradando «és sublime, infinito».
Esvaziamento é a morte do amor,
a obliteração
e terror absoluto o sítio para onde
ninguém deveria ser capaz de olhar:
o sofrimento dos filhos.
Sou sacerdotisa da divindade de mim saída.
Não fala através de oráculos ou messias,
é uma sílfide, uma blimunda.
Mas prestar-lhe culto não pode ser tudo
ou deixarei de ter o que lhe oferecer.
O culto da maternidade implica saber parar,
escutar, viajar e conversar com mulheres
que fumam charutos em Havana ou na Birmânia,
ver onde se funda a humanidade, onde se implanta,
partilhar tudo isto com as crianças.
Mas que isto não sirva de pretexto
para me amardes sem inscrição.
Estou e sou concreta,
carnuda, musculada,
mapeada a marcas de guerra,
um globo terrestre,
Reia, Aquiles, colosso,
mulher-homem,
síntese do sublime e da porcaria,
embebida de eficácia.
Prestais-me um culto de Nossa Senhora,
insistis confinar-me a uma moldura quando
moldura alguma comporta tanta massa,
tanta vida ou palavra.
Quereis-me um ícone, mas não caibo num nicho,
nenhuma das minhas conceições foi imaculada.
Não sou uma mater dolorosa,
sou besta de carga
– só me falta força para me carregar a mim.
Não me perderei por vós
se insistirdes em ver-me assim.
Deus (que posso ser eu)
não ama quem não se cumpre
e só se importa com a casa
mais as crias que pariu.
Deus (que também sou eu)
ama-me imperfeita e viva da vida
que o sexo dos meus pais me deu
– com amantes, lágrimas, doenças em abundância -,
a mim, de quem nunca se poderá dizer
«puta que te pariu»
porque sou filha de Abril.
Não me confinareis a nada,
que não vos engane a moldura com a imagem
da mãe seráfica com a criança ao colo
– o sexo é a minha linguagem.
Se apenas me amardes a alma,
outros amarão a carne, a musculatura,
a cara desfigurada, a convulsão e as secreções
– essas sim, sagradas.
Entretanto confesso:
o que melhor faço é cuidar dos meus,
mimá-los, acarinhá-los, ouvi-los,
preocupar-me com eles até à zanga.
Sou mãe e estou a ficar velha.
Não espereis de mim coisas novas,
diferentes perspectivas,
mais e mais trabalho,
detesto zingarelhos e informática,
é absurda a panóplia tecnológica
com que atafulhamos a galáxia,
canga que não sara feridas
– as minhas luzem em supernova,
anunciam-me a morte há vidas,
só posso assumi-las,
deixá-las ao ar para não necrosarem.
Mas isto é tão cansativo.
Por isso calo-me, dispo-me,
ponho-me de quatro
– a coluna expande-se-me numa cauda.
Réptil jovem sem mal nem culpa,
adentro-me na videira.
Nestes bastidores
nem dentro nem fora da casa,
estou protegida.
Sou uma osga ora frenética ora estática,
alimento-me aleatoriamente,
a minha lista de afazeres é reduzidíssima.
Observo o interior desde a rama
– se não entro, não me presto à sapatada.
Mas como é entediante esta vida de semi-deusa
em tudo semelhante à de uma morta-viva.
Ao menor roçagar de folhas, pergunto-me
se existirá um outro réptil que acasale comigo.

Catarina Santiago Costa (Lisbon, 1975) is a mother, and the author of Estufa (2015), Tártaro (2016), Filha Febril (2017) [Douda Correria], and Oxigénio (2022) [Flan de Tal]. She has also contributed to several poetry publications.