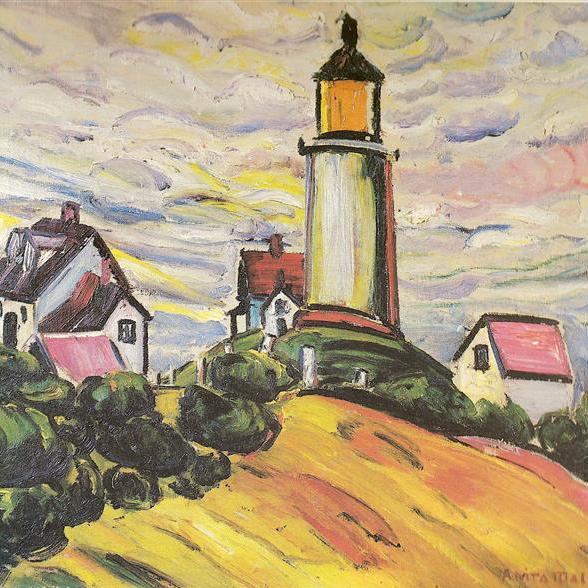MULHER CÃO
Pela janela, ele não verá o teu rosto. Verá o rosto de um cão. Verá como devoras os meus seios bicudos, como lambes os meus dedos debaixo da toalha da mesa, como se ainda pingassem molho de carne. Não creio que ele queira fazer parte deste nosso teatro. Ele tem o teatro dele. Nós temos o nosso teatro, eu e ele, temos o nosso teatro. Nos últimos anos, ando para descobrir o que ele quer de mim. Se ainda me deseja como no princípio. Por vezes, penso que, por não lhe conseguir causar qualquer dor, o prazer tornou-se impossível. A dor e o prazer andam lado a lado, sabias? Parece um paradoxo, mas a própria vida é um paradoxo, somos um e nascemos em corpos separados. Há maior paradoxo do que esse?
Foi ele que nos pôs a actuar juntos, não foi? Por mais que seja absurdo, tenho a impressão que suturou este encontro ponto a ponto. Mesmo estas palavras que me saem da boca foi ele quem as escreveu. Não tens essa impressão? Que a vida é um teatro de almas, combinado à partida? Eu vou ser teu marido, vou encontrar-te aqui, neste ano, vou ignorar-te, rejeitar-te, fazer-te sentir feia, gorda, repulsiva, uma anedota viva, e na mesma irás esforçar-te para eu te aceitar, para te dar o meu amor. Podes até chegar ao ponto de querer mudar-te a ti própria, de tentar rasurar os teus defeitos, mendigar pela minha atenção como uma cadela com o cio, com as pernas escancaradas, e só então descobrirás que a liberdade é escolheres-te a ti própria. Que vieste ao mundo para aprender o amor próprio.
Percorre, com a tua boca, os meus ombros curvos, a minha coluna torta. Escuta dentro do meu peito o rugido da rejeição que vibra dentro de mim desde a infância. Sou ainda aquela menina de olhos postos nos contornos redondos dos sapatos, a quem a mãe abotoa o último botão da camisa e bate com as palmas das mãos duras e bem esticadas no tecido engelhado da saia. Sempre tão exigente, diante da sua criança, como se estivesse diante de uma funcionária que edifica a honra e a glória da sua empresa chamada família.
Cheguei a este lugar, ensimesmada, um copo meio vazio que já não se conhece de outra forma. Sabes como ele é, trabalha nos seus guiões até o sol nascer, bebe para conseguir adormecer e quer controlar tudo o que faço. É essa a vida dele, mesmo quando sou eu a conduzir o carro, ele corrige a velocidade a que ando, como faço as curvas, e cai no desespero quando demoro a estacionar. Quer trocar comigo de lugar e chateia-se quando me recuso. Mas faço por aguçar essa raiva que se pode tornar carnal. Tenho esperança de enraivecê-lo tanto que queira estraçalhar-me a carne e o ventre. Fazer brotar do meu umbigo rosas enredadas nos seus caules e espinhos como muitas coroas sobrepostas.
Hoje decidi que te terei a ti. Não estranhaste o título da peça, “O homem cão come a sua dona”? Não há outro fim possível. Olha para ele através das cortinas, enquanto dedilhas o meu peito volumoso, vejo-o à minha procura, a perguntar àquela mulher que faz de mesinha de cabeceira se não me viu. Não é que sinta a minha falta, precisa da minha companhia, precisa que eu vá buscar o seu caderno de anotações, a caneta de ponta média com que lhe dá jeito escrever, que atenda as nossas três filhas que o cirandam nos seus vestidos coloridos de festa a pedir isto e aquilo só porque eu não estou.
As capas aveludadas, os vestidos, os chapéus, as perucas, as botas, os sapatos de salto alto, envolvem-nos como uma redoma. Parece que estamos dentro de um carro embaciado, onde se acumulou todo o calor do mundo. A nossa respiração torna o ar ainda mais denso. Vens para cima de mim no impulso medonho das tuas quatros patas. Vejo os teus caninos compridos e brilhantes de saliva, a gotejar. A saliva acumula-se na bolsa amolecida das tuas gengivas, a borbulhar com a tensão contida do teu corpo.
Devoras-me como um animal que deu luta, de que não restará um osso sequer. Mas depois páras, os teus olhos recuam para dentro do rosto. O que dizer diante da falsa culpa? Somente que não te importes com ele. Os cães não têm amigos, sabias? Têm donos e a tua dona hoje sou eu. Os cães só não traem os seus donos, os outros não importam. Os donos podem até ignorá-los, insultá-los, bater- lhes, deixar de alimentá-los, os cães conhecem melhor o amor do que as pessoas.
Espera um pouco, pode ser que a ironia desta peça esteja no último acto. O cão come a dona com lágrimas nos olhos, não a come para saciar a fome, come-a porque ela lhe pediu, porque ela tem prazer em ser devorada. Faz-lhe um favor, é isso? Ela tem de deixar de existir para se regenerar, só um acto tão violento como esse possibilita a renovação do seu ser. O cão sabe essas coisas por intuição. Ele não questiona, só faz.
Viste a silhueta dele de passagem pela janela, ainda agora, mesmo ao nosso lado? Viste como passou por nós, fingindo não ver nada do que está aqui a acontecer? Tenho a certeza de que já está dentro da casa, que está parado do outro lado da porta, a escutar os meus gemidos. Sinto a sua respiração sôfrega do outro lado. Achas que me vai mandar embora? Achas que não me vai querer pôr mais os olhos em cima?
Vejo, através da sua nuca calva, a pele cheia de fissuras, o palco da vida. Há um pequeno palco com piso de linóleo encarnado, cortinas de veludo negro dentro da sua cabeça. Vejo todos os seus passos, basta-me fechar os olhos para ver o que quero ver. Ele traz um objecto entre as suas mãos trémulas e envelhecidas. Não é um objecto pesado, nem volumoso, tem um formato rectangular. Não quero descobrir o que é, apenas que me tomes como tua.
Rasga-me por dentro, enquanto ele abre o caderno onde anota novas ideias para o epílogo da peça. As últimas páginas estão em branco, sabias? Já podia prever que a peça não terminava ali. Ele não a conseguiu terminar. Faltavam os poros lascivos de suor, o odor doce e acre a sémen e saliva, os rasgos de luz que banham os nossos corpos. Faltavam os tecidos negros de veludo que nos aconchegam os corpos nus. Por isso, ele revira os olhos no seu epiteto de prazer. Geme de gozo ao perscrutar os movimentos pérfidos do meu corpo. É como se perdesse o rasto do tempo. Não há cavidade no seu corpo que contenha um vestígio de realidade. Ele tira do bolso da camisa a caneta de ponta média e começa a escrever. Escreve o que um solitário nunca conseguiria escrever. Escreve o que nunca conseguiria escrever sem me causar dor. Só quem já se sentiu soterrado pela vida pode falar sobre o que une e divide as pessoas. É preciso levantar os escombros da realidade para encontrar esse espaço singular de paradoxos que edificam as novelas exemplares ao nosso redor.
Estás diante de nós. Não vou a tempo de me cobrir, as auréolas arroxeadas dos meus seios aparecem como dois sois, a minha púbis como uma pirâmide invertida. Estas imagens profanas vêm à minha mente desde criança. Não as controlo, somente as posso acalentar em mim. Cá estou eu, profana, radiante, diante de ti. É tudo uma verdade que só escapa aos teus olhos fugidios. Vens somente avisar que vamos fazer o ensaio final. Nós os dois, os outros já estão à nossa espera no anfiteatro. Aproximo-me de ti, gorda, pesada, com a barriga a escorregar para a púbis, pronta a perguntar-te se não tens olhos para me ver. Mas em vez disso, procuro palavras simples. Pergunto se não te importas que me dê a outro homem. Respondes que não, que falamos melhor depois, está quase a chegar a data da estreia, devemos concentrar-nos na peça. Enquanto isso, afagas a capa do caderno de anotações onde imprimes a minha dor.
Arreganho os caninos. Dou-te uma dentada voraz na mão direita com que escreves. Outra no braço de que parte a mão. Outra no pescoço de que parte o braço. Sinto o gosto do teu sangue virulento a misturar-se na minha saliva. Não sei quando foi que a fidelidade se transformou em submissão. Em mudez, surdez, paralisia. A submissão é sempre fingida. Ninguém nasce sem vontade de fazer o que quer fazer, de estar com quem quer estar, de ir onde quer ir. Ninguém nasce amarrado a uma ideia.
Chamem-me infanta, por deixar tudo para trás. Por acreditar que, em mim, ainda existem caminhos onde ir. Ergo-me destas quatro patas e, por fim, vejo o horizonte sem princípio nem fim, em permanente transformação. O lento revolutear das nuvens volumosas que só vão onde querem ir, só fazem o que querem fazer. O meu corpo fala com a minha mente, a minha mente fala com o meu espírito. Nunca antes senti no rosto este vento lancinante que contraria os tempos idos. Vou adiante, dizendo ao vento que sei para onde quero ir. Depois desta montanha, há outra. Depois da outra montanha, há uma estrada de terra. Depois da estrada de terra, há um lugar desconhecido para onde vou, com os pés gretados, cheios de fissuras negras, a aba do pano que me cobre o corpo rasgada em fiapos.
A LIÇÃO HORIZONTAL
Lá estava ele, uma espécie de pássaro, empoleirado no meu ombro, a espiar os meus pensamentos. Eu não conseguiria, mesmo que tentasse, esconder-lhe a minha paixão pelo professor e, desde que tinha chegado à sala de aulas, ele não parava de comentar o assunto, ao mais ínfimo pormenor, “Não penses que um professor jovem e inseguro” dizia o pássaro, “que nem sequer consegue controlar a produção de saliva, sem que lhe surjam bolhas de cuspo no canto dos lábios, é capaz de sentir mais do que pena de si próprio. Repara, miúda, repara, por favor, como o tipo se move de um lado para o outro do quadro, sob a luz vampírica de fim de tarde, no seu esqueleto deformado, coitado, espreitando pelo canto do olho, em frente a todos os teus colegas, inequivocamente na tua direcção. Que figura patética faz um homem adulto prestes a perder o seu primeiro emprego. Se fosses minimamente inteligente, miúda, pelo menos aproveitavas esta oportunidade para subir a média deste período. É que os outros professores começam a ver-te como uma aluna medíocre, uma espécie de caso perdido, mas esquece, és demasiado sentimental, é isso que me enerva em ti.”
Enquanto o professor se posicionava ao fundo da sala para projectar o filme erudito que tinha escolhido para mim, o pássaro atravessava o feixe de luz que alcançava a grande tela, pousando sobre os ombros dos meus colegas, sem que mais ninguém, senão eu, desse pela sua presença ali. A mim restava-me espreitar o que sobrava de cada plano, sempre que o pássaro abria as asas negras e cintilantes, deixando a descoberto, por breves instantes, fotogramas sufocantes de uma dona de casa entediada que, durante o dia, abria os flancos numa casa fina de prostituição e, durante a noite, dividia com o marido uma solidão privilegiada. Eu seria como ela, um anjo da perversão, para deleite do professor, uma miúda que tinha no corpo uma dose de candura semelhante à da perversão. E como poderia, assim, ele ter culpa de me tentar? Ou, pelo menos, não me impedir de o tentar a ele? Como poderia ele ser julgado pelo comportamento ambíguo de uma rapariga que se fazia valer deliberadamente da solidão para conquistar um homem mais velho com um desequilíbrio emocional? É claro que isso não seria o suficiente para impedir o seu despedimento, mas o director de nuca calva, que trocara a batina pela pasta do ensino, talvez se pudesse identificar com um sentimento tão elevado, a sete pés de altitude, numa escola pública atirada para os subúrbios da capital.
Eu queria ser como ela, uma rapariga nas mãos do professor, queria corromper a minha pureza, e dizer, eu sou, ponho os pés na ponta do abismo, e vejo os dedos balançar entre a superfície ténue e coisa nenhuma e, nesse bocado ínfimo de precipício, respiro no meu caos, deixando que o fogo me consuma.
Por isso, as mãos do professor tremiam, e o seu tronco magro e informe tentava, a muito custo, manter uma postura recta e irrepreensível, fazendo-se passar, diante de todos, por um exemplo de primor e erudição. As suas liturgias eram o estranho equilíbrio de um funâmbulo desajeitado e o pavor atroz que descobrissem o seu desejo por mim.
Nesse embalo, o odor a enxofre conduzia-me. Era um cheiro que conhecia bem, uma inusitada justaposição. Quando chegava a casa, com os joelhos abertos em ferida, a minha avó costumava lavar-me as pernas com sabão de enxofre. Por coincidência, era esse o cheiro que o professor carregava encrostado na pele e nas roupas, era o cheiro que levava para toda a parte.
Ao assinar o livro de presenças, podia pressentir nas suas unhas imaculadas o quanto esfregava o corpo e a nuca várias vezes ao dia para se livrar do suor que assomava dos seus poros. Eram as crateras escavadas na pele, a superfície da sua pele mostrava ainda as crateras do acne tardio, espirrando a sua gordura interior. Por isso, ele me procurava, dizia o pássaro, porque mais ninguém queria aproximar-se dele, era tão escarninha a sua feiura e desprezível a forma como a tentava dissimular, que se tornara solitário e a solidão reverberava no seu claustro, aumentando o rasto de águas negras que se prolongava dele. À medida que o pássaro implantava as suas palavras na minha consciência, eu questionava se conseguiria entregar-me ao professor no asco que me consumia, se a sua poesia seria o suficiente para me salvar. Pensava que o nosso encontro era uma partida, que devia virar costas e rasurar a sua imagem da minha mente. Ainda assim, queria-o. Queria chegar conduzida pelo erro, por um caminho só meu, que eu própria procurara, e nessa soltura, nunca a minha carne cheiraria a mofo num confinamento forçado, pois no erro se renovaria a todo o instante, leve e fresca.
Esperei por ele no fim da aula e disse-lhe que me encontrasse, que mais tarde me encontrasse junto à fábrica de arroz, quando os candeeiros da rua se acendessem. Devia esperar por mim sem olhar para as pessoas que passassem, e evitar o prédio de azulejos verdes na esquina onde morava com a minha avó, que, por vezes, ela levantava-se de noite para tomar os seus medicamentos e podia, por azar, olhar pela janela. Eu sairia sem ela dar conta e passaria por ele como se não o conhecesse. Bastava seguir-me pelas portadas da fábrica. Aí me encontraria e poderíamos estar juntos sem ninguém nos incomodar, tinha visto outros fazê-lo, sabia que as raparigas mais velhas levavam para lá os namorados, era para isso que servia a fábrica, para aqueles que encontravam prazer nos lugares estragados.
Pensei em usar as sandálias de tiras vermelhas que a minha avó me havia comprado. Por sorte, tinha-as encontrado numa sapataria, soterradas por um monte de sapatos que ninguém queria. A minha avó hesitara em comprá-las, pois eram demasiado vistosas para uma menina da minha idade, mas depois, ao ver-me com elas nos pés, reconheci um brilho esconso no seu olhar que dizia, “Estou velha e cansada, assim pelo menos encontrarás alguém que cuide de ti.”
Toda a semana andei com as sandálias de tiras vermelhas nos pés, como uma pequena prostituta, a passear entre os adultos, celebrando a proibição. As raparigas da minha idade afastavam-se com medo que a minha vontade desmesurada de crescer se pegasse como uma doença, assim os pais aconselhavam.
Quando anoiteceu, sentei-me com as sandálias de tiras vermelhas calçadas, a observar o movimento junto das portadas da fábrica de arroz. A minha avó havia tomado os medicamentos mais cedo e dormia profundamente. Pensei em descer, em chegar antes das luzes se acenderem e entrar com o professor para aquele lugar estragado mas, no último instante, fraquejei. Fiquei somente a observar o local onde nos encontraríamos, a escutar os passos de quem errava por ali a ecoar na calçada, na esperança de ver o professor chegar, o seu esqueleto corcovado à minha procura. Mas o tempo passou sem que nenhum de nós aparecesse no lugar combinado.
Enquanto o pássaro sobrevoava a minha nuca em círculos repetidos, eu imaginava o que impedira o professor de vir ao meu encontro. Imaginava o medo e a eminência do despedimento a manietá-lo, ele a desenvencilhar-se das cordas, cortando-as por desespero com a ponta de uma navalha.
“Não estejas para aí a lamentar-te”, disse o pássaro com desdém. “Aconteceu o que era óbvio, só tu é que não querias ver. O que pode afinal fazer um jovem professor, de aparência medonha, que ainda por cima não nasceu em berço de ouro, senão tentar escapar como um gato da água, da sede ávida pelo teu corpo jovem e indefeso? O que esperavas dele, miúda, que te encontrasse nesse lugar sujo e destruído e te dissesse poesias ao ouvido? Asseguro-te que, nesse instante, ele esquecerá os seus versos e tu terás de o beijar com náuseas no estômago. Pensa miúda, pensa um instante, não quero ver-te estraçalhada entre os silos gigantescos da fábrica, como se tivesses idealizado um epílogo grandioso para encetar a tua história. Ainda vais a tempo de lhe virar costas.” As palavras do pássaro não me importavam, já só escutava o rasto que deixavam, as sílabas dispersas. Eram palavras alheias, de quem se move acima das coisas.
De noite, sentia a respiração do professor perto de mim. Era como se o meu coração batesse dentro da boca e, dos meus mamilos, jorrasse a sua saliva lasciva. Eu resistia à ordem das coisas, procurava conhecer através da transgressão. Não havia outro caminho, não entendia a linguagem dos outros, repudiava a linearidade com que se sucedia a vida dos rapazes e das raparigas da minha idade. Restava-me apenas escarafunchar na lama, na podridão encontraria o meu equilíbrio.
Procurei pelo professor nas salas de aulas. Procurei-o pelos corredores da escola, quis persegui-lo e encurralá-lo, falei-lhe da minha paixão, que também eu fraquejara na noite anterior, mas não devíamos ter medo, havíamos de deixar as coisas acontecer e depois logo veríamos. Ele virou-me as costas, não queria ser visto perto de mim, muito menos nos corredores da escola, andavam a dizer-se coisas, devíamos ter cuidado. Disse-lhe que não me importava com o que se dizia, queria encontrar-me com ele num lugar distante. Ele ficou por instantes em silêncio, mas depois disse que tinha uma casa junto ao cais, devia esperar por ele na entrada do bairro dos pescadores quando as luzes dos candeeiros se acendessem.
Ao entardecer, debaixo da luz alaranjada das lezírias, o pássaro disse-me, “Não imaginas quem vi hoje, era o teu mestre de sabedoria.” E sem a satisfação de uma resposta, continuou, “Estava ali, na rua principal, perto da vitrine de uma loja de roupa. Aproximei-me para confirmar se era ele, primeiro pensei que não podia, não era possível, pensei que estava a ver coisas, mas não, aquelas costas corcovadas não enganam ninguém. E adivinha, miúda, estava abraçado a uma rapariga da tua idade. Aproximei-me para ver melhor, sabes como sou curioso, e era aquela rapariga da tua turma, aquela de cabelos ruivos que se senta lá atrás. Mas sabes o que me fez confusão, miúda, era ela que o queria e ele dizia que não, que se devia afastar dele. Por certo, já tinha conseguido o que queria. Agora só faltas tu, miúda abandonada. Vai ter com ele, corre, não sei o que esperas.” Disse ao pássaro que não me fizesse demorar. Não queria ouvir as suas histórias, andava a cirandar o meu pensamento a toda a hora. Se o professor estava a afastar a rapariga era porque não a queria.
Pela primeira vez, deixando as suas ironias, o pássaro suplicou-me que não fosse, que não me devia entregar aos devaneios de um homem mais velho que, a qualquer momento, me descartaria. Mas nada do que me pudesse dizer importava, queria atravessar para o outro lado, conhecer os danos que aquele prazer me causaria.
Atravessei a fábrica de arroz. Era esse o caminho que dividia o prédio onde vivia de todos os meus destinos. Era um lugar estragado, para onde as pessoas atiravam lixo sem pensar, onde dormiam os mendigos e abundavam seringas usadas pelo piso de cimento fissurado. Tinha-o conhecido sempre assim, como um lugar sujo, cheio de perigos, onde jamais deveria entrar. Eu gostava de lugares estragados, encrostados em sujidade, desconfiava da rectidão das coisas, cuspia nela e sentia a humidade a permear-me a pele, sentia vontade de provar dessa sujidade.
Com as unhas, raspava as paredes arenosas daquele lugar estragado e sentia o seu sabor a terra e humidade a misturar-se na minha saliva. Perguntava-me se, comendo um pedaço daquele lugar, traria algo dele comigo. Queria levar tudo comigo, os lugares, o tempo, as pessoas. Era esse meu desejo devorador. Tocava no lixo que os habitantes da vila atiravam para os lagares da fábrica, encontrava pilhas de apontamentos da escola, roupas e sapatos velhos, por vezes descobria retratos de famílias desconhecidas e guardava-os só para os contemplar sozinha, no meu quarto, os olhares, a forma como as figuras carregavam o corpo e davam as mãos.
À medida que eu atravessava a sala das máquinas, onde ainda permaneciam as carcaças das debulhadoras, com os seus gigantescos tambores metálicos, eu recobrava a quietude que precisava para ir ao encontro do professor. Contornava a circunferência das máquinas, sentindo o seu peso esmagador, enquanto a noite entrava pelas janelas da fábrica. Era nessa escuridão prenhe de sussurros e ruídos antigos que encontrava coragem para continuar.
Ao abandonar a fábrica, deparei-me com o mar nocturno. O reflexo da lua iluminava o passadiço com a sua luz de prata. Sempre que ia àquele lugar estragado, maravilhava-me com a imensidão do mar e recobrava forças nas suas águas.
Parei um instante a observar a brancura dos meus pés entre as tiras das sandálias vermelhas. A pequena prostituta, pensei. Nos meus pés, era uma brancura de saúde, de quem ainda não caminhara para demasiado longe de si mesma. Tinha observado os pés da minha avó e os de outras mulheres mais velhas. Pensei que cada susto adicionava uma nova ruga aos pés das mulheres e que, inevitavelmente, um dia, olharia para os meus e não os reconheceria como parte do corpo. Só pelo contraste, eu reconhecia a beleza.
Passei pelas pequenas casas de madeira ao longo do cais. Eram casas antigas, habitadas pelas poucas famílias que ainda viviam da pesca. Muitas das casas possuíam pequenas escotilhas no topo das fachadas, noutras as pessoas que lá viviam tinham plantado jardins de girassóis, rosas e giestas de todas as cores. As redes de pesca, com agulhas espetadas, e os arpões opulentos com que eram capturados os moluscos, ficavam junto das portas. Era dia de semana, ninguém caminhava por ali, somente os cães abandonados farejavam os restos de comida e, quando encontravam um osso, escondiam-se debaixo dos carros a devorá-lo com o seu rosnar pernicioso.
Aos poucos, as luzes no interior das casas, começaram a apagar-se e apercebi-me que tinha alcançado o portão azul.
Ao ver que ninguém se aproximava, pensei que o professor tinha mais uma vez fraquejado, por medo tinha desistido do nosso plano. Pensei em correr o mais rápido que podia para casa. Devia regressar antes que a minha avó viesse ao meu encalço, por certo alguém me teria visto por ali e seria forçada a dar-lhe explicações.
Enquanto batia as asas, o pássaro oprimia-me com os seus olhos de julgamento. “Vamos dizer que voltámos para trás. Sobes as escadas que desceste, abres a porta que fechaste, e deitas- te na cama de onde te levantaste, sem nunca mencionarmos o assunto a mais ninguém. Vamos dizer que não valia a pena desde o princípio, que do outro lado só ias encontrar destroços e podridão, vamos aceitar que as coisas são assim, que há pessoas que se entranham no nosso pensamento pelas piores razões, e decidir que o professor não salva a aluna, que não entras na toca do lobo, e ele nunca te chega a devorar. Vamos dizer que voltámos, agora, enquanto ainda é tempo.”
O tom condescendente do pássaro enervava-me cada vez mais, queria livrar-me dele, existir para além dele, do que pensava e tentava forçar-me a pensar. Ao ver que não me movia, ele respirou fundo e foi pousar no telhado de uma casa. Pedi-lhe que partisse, que me deixasse ser. Pela primeira vez, que me deixasse ser. Ele vergou o olhar e, com uma voz cansada, iniciou a sua última litania, “Lembras-te daquela vez, miúda, daquela vez em que eras pequena, tinhas uns cinco anos, e passavas sempre com a tua avó por um canteiro de begónias roxas no caminho para as compras? Não baixes os olhos, lembras-te bem, sabes exactamente onde quero chegar. Arrancavas sempre uma resma daquelas flores muito redondas e arroxeadas quando ela se distraía a olhar para as montras. Eu não podia fazer nada para te impedir, mas dizia-te, miúda, para não comeres aquelas flores. Podes até dizer que sou uma espécie de padre, um moralista qualquer mas, se queres saber, eu admiro a tua imaginação tenaz. Dizias que, por serem tão belas, por te lembrarem rebuçados de uva, os teus preferidos na altura, nunca te fariam mal. Dizias que tu controlavas o que te fazia mal. Que podias beber veneno, mas se fosses forte da cabeça nada te aconteceria. Chegou um dia em que acreditei, porque já comias begónias há algumas semanas, parecias estar feliz e saudável, mas depois adoeceste, a tua garganta inflamou e encheu-se de feridas. Não conseguias comer nem beber, e a tua avó passou tempos a ir e vir do hospital, carregada de terços e orações de desespero. Não controlas o veneno, miúda, não podes decidir se te vai contaminar ou não. Se vais viver ou morrer. Não és tu que decides, entendes isso?” Senti uma baforada de ar quente no meu ouvido. “Segue-me”, disse o professor sem refrear o passo. “A minha casa é por ali.” Segurou-me pelo pulso. Fui, sem questionar, segui-o, eu controlava o veneno, decidia se amargaria nas cordas das minhas veias ou não me causaria qualquer dano.
O professor serviu-me um copo de vinho na mesa da sala. “Nunca provaste?” perguntou. Com uma expressão vaga no rosto, ficou a aguardar a resposta, mas limitei-me a baixar o olhar. “Foi o que pensei. Só te ofereci porque ajuda a descontrair e temos tido dias difíceis com todos a olharem para nós.” Bebi o copo de vinho de um só trago. Só depois me apercebi que o vinho escorria dos meus lábios para o vestido. O professor pegou num guardanapo e limpou-me os lábios avermelhados. O seu rosto estava junto do meu, a sua pele marcada por cicatrizes e crateras profundas, o esqueleto abaulado e enfermo. Senti desejo e repulsa ao mesmo tempo. Queria que destrinçasse o meu desespero e lesse, nos cacos espalhados, os caminhos que eu não conhecia. Queria entender porque parecíamos dois lados da mesma moeda. O que me aproximava daquele homem monstro. Bebi mais um copo de vinho.
O vinho subiu-me rapidamente à cabeça. Era como se um sopro cálido revoluteasse dentro das paredes do meu crânio. Escondi-me dentro da casa de banho e passei uma porção de água fria pelo rosto. Aos poucos, apercebi-me que estava no covil do lobo e senti o desejo de fugir. Pensei em esgueirar-me para a porta da casa, mas não havia saída possível sem passar pelo professor.
Fiquei ali, adiada, sem saber o que fazer. Ao meu redor, uma casa de banho convencional, uma banheira com cortina, bidé, sanita, lavatório. Nesse deslizar de olhos, notei que a porta do armário espelhado por cima do lavatório estava entreaberta. Quis escapar dali, quis saber mais sobre o professor. Abri a porta espelhada e encontrei dezenas de frascos de comprimidos, empilhados uns sobre os outros, medicamentos que não terminavam, armazenados em frascos transparentes, sem nome. Pensei que o professor estava muito doente, que uma doença carcomia o seu corpo, isso explicava a compleição enferma, a voz doída.
Debaixo da luz amarelada do candeeiro, ele bebericava do copo de vinho com o rosto vergado sobre um livro. Aproximei-me devagar para descobrir que livro era aquele mas, no mesmo instante, ele fechou-o, disse que quanto menos palavras melhor.
Deixei-me envolver pelos seus braços. Sentia a sua respiração quente e ofegante, as suas mãos à volta do meu torso. Não consegui guardar as palavras dentro da boca. Queria conhecer os seus segredos e disse-lhe que tinha visto os frascos de comprimidos em muita quantidade. Perguntei-lhe que doença era aquela que tentava travar no corpo. Por segundos, ficou assim, muito demorado, arredando a conversa a um canto.
Quis voltar atrás, aceitar o que viesse, mastigar as palavras e engoli-las. Disse-me, por fim, que tinha nascido enfermo, com coágulos brancos a densificarem-se cada vez mais no sangue, comendo a medula, tudo à sua volta, inclusive os dias que estavam adiante. Desde que nascera, fora instruído para a morte. Estava cansado de se submeter todos os anos aos bisturis dos médicos. Tomava medicação apenas para sobreviver mais um ano, mais uns meses, mais uns dias, talvez menos do que isso. Tivera de aceitar que, em breve, morreria. Isso fora a sua libertação. “Por isso”, disse-me enquanto enlaçava as suas mãos nas mechas grossas dos meus cabelos, “por isso, não havia motivo para perder tempo, ou silenciar os seus impulsos, não podia desperdiçar o tempo que lhe restava a ser o que os outros esperavam dele, era essa liberdade que procurava.” Perguntou-me se também eu procurava a liberdade. Disse-lhe que não sabia. O que procurava não tinha ainda nome. Disse-me que com ele, alcançaria esse estado muito secreto, agarrou-me pelos ombros magros e fez deslizar o fecho do meu vestido.
Sou devorada em pleno voo. Tento abrir as asas e libertar-me do punho fechado do professor. As suas mãos deslizam pelos meus seios lisos e enrijados. Enquanto ele fecha as garras à volta do meu pescoço e me aperta a garganta, sussurra-me ao ouvido, “Conta-me, miúda abandonada, conta-me, o que os teus colegas dizem sobre mim, como me chamam quando não estou a ver.” Não lhe respondo, as palavras soltam-se em gemidos, o desejo pelo interdito puxa- nos com as suas cordas grossas. Diz que merece ser punido. A palavra punição excita-o. As mãos do professor vão atrás de uma ideia, de um desejo obscuro pela insurreição. Ao passo que cumpre a sua performance como detentor da sabedoria durante os dias, naquele quarto desvirtua- a e, nessa desvirtuação, na certeza de que todos caem no seu ardil, sente os ossos em forma de onda que demarcam a minha cintura infanta, ululando de volúpia. Face aos olhos da sociedade, ele despeja a sua seiva pelos átrios da escola, criando charcos de contestação contra as leis dos outros, na sua cobardia, escondido entre as paredes do seu quarto, é essas duas pessoas. E com os seus lábios amolecidos de cicatrizes, grunhe, grunhe por cima de mim como uma besta muito inteira e robusta, certa do volume imenso do seu corpo.
Sob a respiração difícil do professor, o meu rosto torna-se duro como pedra. Sinto que a qualquer instante pode partir-se em muitos bocados, dispersar-se no tempo em fragmentos incontáveis que jamais se voltarão a reunir. Antes dos seus olhos se fecharem como persianas, pergunta-me em busca de uma consciência limpa, “Quantos já tiveste?” Arrasto os olhos para os lençóis mascarrados de sangue.
No escuro daquele quarto, lembro-me dos meus pais, que nunca os conhecei. Ambos haviam caído no vício das seringas, deixando-me aos cuidados da minha avó. Percebo que sempre foi a morte que nos uniu, a mim e ao professor, que me dava a ilusão de termos muito em comum. Por isso, tínhamos sempre o que conversar, vasculhávamos nos mesmos abismos.
Levando o meu erro, o erro que me conduzia e recriava, parti para nunca mais voltar.
Jamais voltaria a contemplar o luto no rosto do professor.
Na mesma noite, dissipando-se nas nuvens altas, o pássaro partiu. Disse-me enquanto voava, “Agora estás por tua conta, miúda, pelos teus próprios pés, descobrirás onde ir.” Subi pelas escadas que tinha descido, entrei pela porta de onde tinha saído e deitei-me na cama de onde me tinha levantado. Por dias a fio, dormi, talvez ainda esteja a dormir.

Ana Queiroz is the daughter of an aircraft mechanic and an eccentric mother who stayed at home and helped the poor. She grew up in a social housing neighborhood, where she also encountered the reality of the slums, witnessing, alongside her mother, stories of misery, mental disorders, and abuse. Her father’s desire to fly and the stories her mother brought home shaped her aspiration to write. For over 15 years, she dedicated herself to writing documentaries and animations as a screenwriter while keeping these personal stories in a drawer, now finally published.
The texts: Mulher Cão and A Lição Horizontal are included in the individual Anthology of Short stories Infanta.